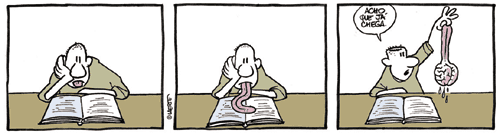terça-feira, 21 de dezembro de 2010
Juntando minha voz à voz da ATEA
Uma campanha da Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos (ATEA) pretende combater o preconceito contra os ateus, colocando em ônibus urbanos cartazes que ridicularizam certas crenças prejudiciais ao ateísmo. Uma delas é, por exemplo, que, dada a premissa – falsa – de que a religião é a fonte da moral, o homem sem religião não tem moral ou caráter.
Contra esse preconceito, a ATEA preparou um cartaz que afirma: “Religião não define caráter. Diga não ao preconceito contra ateus”. E pôs o retrato de Charles Chaplin, com a legenda “Não acredita em Deus” ao lado do retrato de Adolf Hitler, com a legenda “Acredita em Deus”.
in: http://antoniocicero.blogspot.com/
segunda-feira, 13 de dezembro de 2010
domingo, 21 de novembro de 2010
Evitando o vazio
SERÁ QUE PODEMOS contemplar o vazio absoluto? E se pudermos, será que tal coisa - a ausência de tudo- existe? O que definimos como o "nada" mudou radicalmente com o passar do tempo.
A noção do vazio absoluto é desconfortável, provoca certa ansiedade. Queremos enchê-lo com algo.
Já na Grécia Antiga, a questão incitava o debate. Parmênides dizia que o nada não existe e não faz sentido. Haveria apenas o Ser, que está em todos os lugares. Sua ausência significaria a existência do não Ser, que lhe parecia impossível.
Contra essas ideias, os atomistas diziam que a realidade é composta de átomos movendo-se no vazio. Esses átomos podem se combinar para dar forma a tudo o que existe.
Aristóteles discordava disso. Para ele, o vazio também era uma impossibilidade, mas seus argumentos eram mais concretos.
Uma pedra cairá com velocidades diferentes num copo cheio de água ou de mel: quanto mais denso o meio, mais lento o movimento.
Portanto, um meio vazio e com densidade zero permitiria velocidades infinitas, o que era um absurdo. Aristóteles postulou então a existência do éter, uma substância imutável que permeia o Cosmo.
No século 17, Descartes afirmou também que um fluido preenchia o espaço, o que explicaria as órbitas dos planetas em torno do Sol: ao girar, o astro causava o giro do fluido que, por sua vez, fazia com que os planetas girassem.
Newton mostrou que Descartes estava errado: tal fluido criaria uma fricção que causaria instabilidades nas órbitas planetárias. O espaço ficou vazio outra vez.
Quando o escocês James Clerk Maxwell demonstrou, no século 19, que a luz era uma onda eletromagnética, teve de inventar um meio onde essa onda se propagasse. Afinal, ondas de água se propagam na água, e ondas de som, no ar. Maxwell supôs que um meio transparente, sem massa (para não atrapalhar as órbitas) e muito rígido (para permitir propagar ondas ultrarrápidas) enchia o cosmo. O éter acabou voltando. Apenas em 1905 Einstein demonstrou que o éter não é necessário, porque ondas de luz são capazes de se propagar no vácuo. O espaço ficou vazio outra vez. Durante o século 20, o conceito de campo substituiu o conceito de força e ação à distância. Todo corpo com massa cria um campo gravitacional à sua volta, que influencia outros corpos com massa. Toda carga elétrica cria um campo elétrico que influencia outras cargas etc.
Os campos preenchem todo o espaço, criados por sua fontes. A realidade física é vista como sendo criada por campos e suas excitações. Elétrons, prótons, fótons são excitações de campos.
Devido a flutuações típicas na escala atômica, essas partículas podem surgir até do vazio. O vazio absoluto não existe, pois sempre haverá uma energia de excitação no espaço, a agitação quântica.
Essa energia pode criar matéria vinda do nada! Como foi descoberto em 1998, a expansão do Universo se acelera: galáxias se afastam mais rápido do que o esperado.
A causa desse efeito é desconhecida, mas ganhou o nome de energia escura. É possível que venha dessa agitação quântica do espaço vazio. O éter, ou algo do tipo, voltou.
A noção do vazio absoluto é desconfortável, provoca certa ansiedade. Queremos enchê-lo com algo.
Já na Grécia Antiga, a questão incitava o debate. Parmênides dizia que o nada não existe e não faz sentido. Haveria apenas o Ser, que está em todos os lugares. Sua ausência significaria a existência do não Ser, que lhe parecia impossível.
Contra essas ideias, os atomistas diziam que a realidade é composta de átomos movendo-se no vazio. Esses átomos podem se combinar para dar forma a tudo o que existe.
Aristóteles discordava disso. Para ele, o vazio também era uma impossibilidade, mas seus argumentos eram mais concretos.
Uma pedra cairá com velocidades diferentes num copo cheio de água ou de mel: quanto mais denso o meio, mais lento o movimento.
Portanto, um meio vazio e com densidade zero permitiria velocidades infinitas, o que era um absurdo. Aristóteles postulou então a existência do éter, uma substância imutável que permeia o Cosmo.
No século 17, Descartes afirmou também que um fluido preenchia o espaço, o que explicaria as órbitas dos planetas em torno do Sol: ao girar, o astro causava o giro do fluido que, por sua vez, fazia com que os planetas girassem.
Newton mostrou que Descartes estava errado: tal fluido criaria uma fricção que causaria instabilidades nas órbitas planetárias. O espaço ficou vazio outra vez.
Quando o escocês James Clerk Maxwell demonstrou, no século 19, que a luz era uma onda eletromagnética, teve de inventar um meio onde essa onda se propagasse. Afinal, ondas de água se propagam na água, e ondas de som, no ar. Maxwell supôs que um meio transparente, sem massa (para não atrapalhar as órbitas) e muito rígido (para permitir propagar ondas ultrarrápidas) enchia o cosmo. O éter acabou voltando. Apenas em 1905 Einstein demonstrou que o éter não é necessário, porque ondas de luz são capazes de se propagar no vácuo. O espaço ficou vazio outra vez. Durante o século 20, o conceito de campo substituiu o conceito de força e ação à distância. Todo corpo com massa cria um campo gravitacional à sua volta, que influencia outros corpos com massa. Toda carga elétrica cria um campo elétrico que influencia outras cargas etc.
Os campos preenchem todo o espaço, criados por sua fontes. A realidade física é vista como sendo criada por campos e suas excitações. Elétrons, prótons, fótons são excitações de campos.
Devido a flutuações típicas na escala atômica, essas partículas podem surgir até do vazio. O vazio absoluto não existe, pois sempre haverá uma energia de excitação no espaço, a agitação quântica.
Essa energia pode criar matéria vinda do nada! Como foi descoberto em 1998, a expansão do Universo se acelera: galáxias se afastam mais rápido do que o esperado.
A causa desse efeito é desconhecida, mas ganhou o nome de energia escura. É possível que venha dessa agitação quântica do espaço vazio. O éter, ou algo do tipo, voltou.
MARCELO GLEISER é professor de física teórica no Dartmouth College, em Hanover (EUA), e autor do livro "Criação Imperfeita"
Marcadores:
ciência,
filosofia,
física,
marcelo gleiser
terça-feira, 16 de novembro de 2010
A realidade é como percebemos
SEMANA PASSADA, DESCREVI como a física moderna vê a realidade como sendo composta de várias camadas, cada qual com seus princípios e leis.
Isso vai contra o reducionismo mais radical, que diz que tudo pode ser compreendido partindo do comportamento das entidades fundamentais da matéria. Segundo esse prima, existem apenas algumas leis fundamentais. Delas, todo o resto pode ser determinado. Gostaria de retornar ao tema hoje, mas focando num outro aspecto dessa questão que é bem complicado: o que é realidade e como sabemos.
Começo contrastando os filósofos Hume e Kant. Para Hume, o conhecimento vem apenas do que captamos com nossos sentidos. Baseados nesta informação, construímos a noção de realidade. Portanto, uma pessoa que cresceu sem qualquer contato com o mundo externo e que é alimentada por soros não seria capaz de reflexão. Kant diria que existem intuições já existentes desde o nascimento, estruturas de pensamento que dão significado à percepção sensorial.
Sem elas, os dados colhidos pelos sentidos não fariam sentido.
Duas dessas intuições são as noções de espaço e de tempo: elas costuram a estrutura da realidade, conectando e dando sentido ao fluxo de informação que vem do mundo exterior. Uma mente com estruturas diferentes, portanto, teria uma noção diferente da realidade.
Kant não diz que o sensório não é importante. Para ele, mesmo que o conhecimento comece com a experiência externa, não significa que venha desta experiência. Precisamos do fluxo de informação sensorial, mas construímos significado partindo de nossas intuições: os dados precisam ser ordenados no tempo e arranjados no espaço.
Durante as primeiras décadas do século 20, duas revoluções forçaram uma reavaliação da ordem kantiana. A relatividade de Einstein combinou espaço e tempo. Deixaram de ser quantidades absolutas, tornando-se dependentes do observador.
O que é real para um pode não ser para outro. A teoria de Einstein restaura uma forma de universalidade, pois provê meios para que observadores diferentes possam comparar suas medidas de espaço e tempo.
A segunda revolução veio com a física quântica. Para nossa discussão hoje, seu aspecto mais importante é a relação entre o observador e o observado. Na época de Kant, a separação entre os dois era absoluta. No mundo quântico dos átomos e partículas, a natureza física de um objeto (se um elétron é uma partícula ou uma onda, por exemplo) depende do ato de observação.
Ou seja, as escolhas feitas pelo observador induzem a natureza física do que é observado: o observador define a realidade. E como a intenção do observador vem de sua mente, a mente define a realidade. A mente precisa ainda das intuições a priori para interpretar o real, mas ela participa desta interpretação.
A objetividade imparcial se torna, então, obsoleta, já que mente e realidade tornam-se inseparáveis. Se essa relação na camada quântica afeta outras camadas é ainda objeto de discussão.
MARCELO GLEISER é professor de física teórica no Dartmouth College, em Hanover (EUA), e autor do livro "Criação Imperfeita
Isso vai contra o reducionismo mais radical, que diz que tudo pode ser compreendido partindo do comportamento das entidades fundamentais da matéria. Segundo esse prima, existem apenas algumas leis fundamentais. Delas, todo o resto pode ser determinado. Gostaria de retornar ao tema hoje, mas focando num outro aspecto dessa questão que é bem complicado: o que é realidade e como sabemos.
Começo contrastando os filósofos Hume e Kant. Para Hume, o conhecimento vem apenas do que captamos com nossos sentidos. Baseados nesta informação, construímos a noção de realidade. Portanto, uma pessoa que cresceu sem qualquer contato com o mundo externo e que é alimentada por soros não seria capaz de reflexão. Kant diria que existem intuições já existentes desde o nascimento, estruturas de pensamento que dão significado à percepção sensorial.
Sem elas, os dados colhidos pelos sentidos não fariam sentido.
Duas dessas intuições são as noções de espaço e de tempo: elas costuram a estrutura da realidade, conectando e dando sentido ao fluxo de informação que vem do mundo exterior. Uma mente com estruturas diferentes, portanto, teria uma noção diferente da realidade.
Kant não diz que o sensório não é importante. Para ele, mesmo que o conhecimento comece com a experiência externa, não significa que venha desta experiência. Precisamos do fluxo de informação sensorial, mas construímos significado partindo de nossas intuições: os dados precisam ser ordenados no tempo e arranjados no espaço.
Durante as primeiras décadas do século 20, duas revoluções forçaram uma reavaliação da ordem kantiana. A relatividade de Einstein combinou espaço e tempo. Deixaram de ser quantidades absolutas, tornando-se dependentes do observador.
O que é real para um pode não ser para outro. A teoria de Einstein restaura uma forma de universalidade, pois provê meios para que observadores diferentes possam comparar suas medidas de espaço e tempo.
A segunda revolução veio com a física quântica. Para nossa discussão hoje, seu aspecto mais importante é a relação entre o observador e o observado. Na época de Kant, a separação entre os dois era absoluta. No mundo quântico dos átomos e partículas, a natureza física de um objeto (se um elétron é uma partícula ou uma onda, por exemplo) depende do ato de observação.
Ou seja, as escolhas feitas pelo observador induzem a natureza física do que é observado: o observador define a realidade. E como a intenção do observador vem de sua mente, a mente define a realidade. A mente precisa ainda das intuições a priori para interpretar o real, mas ela participa desta interpretação.
A objetividade imparcial se torna, então, obsoleta, já que mente e realidade tornam-se inseparáveis. Se essa relação na camada quântica afeta outras camadas é ainda objeto de discussão.
MARCELO GLEISER é professor de física teórica no Dartmouth College, em Hanover (EUA), e autor do livro "Criação Imperfeita
Marcadores:
ciência,
filosofia,
física,
marcelo gleiser
terça-feira, 2 de novembro de 2010
Michel Onfray: a potência de existir (parte 1)
Ando em dívida com este meu blog de filosofia. Há um projeto parado – Nietzsche e a Tragédia – e outro que precisa ser iniciado – a discussão do trabalho do francês Michel Onfray. A minha confluência astrológica de Gêmeos com Peixes é minha delícia e meu desespero, pois me leva a ter de três a cinco livros na cabeceira, todos em processo de leitura ou releitura, e, pior ainda, de áreas diferentes. Atualmente, há dois do Jung, este do Onfray, um do Drummond, um do William Wordsworth e dois do Quintana. Pelo visto, me superei porque a conta final dá sete!
Mas nesta terça, feriado, tomei a decisão de terminar de ler o Rascunho que rodou a semana toda comigo e começar a postar sobre o livro do filósofo Michel Onfray, “A potência de existir – manifesto hedonista”. O projeto do Nietzsche, eu fico devendo, principalmente a mim, porque esses dois blogs que criei são muito mais uma forma de exercitar a escrita. Daí o conselho para que os leitores não esperem muito deles, não são nada além de exercícios de escrita e de apreciação de leituras.
Bom, chega de tergiversações, vamos aos fatos. Em post anterior, encabecei a imagem do livro com o seguinte texto: “a revolta dionisíaca na filosofia libertária de Michel Onfray”. E quem é o autor? Ele mesmo se apresenta no prefácio intitulado “Autorretrato com criança”. Começa afirmando que “morri aos dez anos de idade, numa bela tarde de outono, numa luz que dá vontade de eternidade”. Então, o autor passa a relatar o período doloroso de quatro anos, entre os dez e os quatorze, em que foi entregue pelos pais a um orfanato de padres salesianos, localizado na Baixa Normandia.
Antes disso, quer dizer, até os dez, o menino, filho de família muito pobre, viveu entregue à natureza na sua província natal de Chambois. “Antes de ler as Geórgicas eu as vivi, minha carne em contato direto com a matéria do mundo”, escreve Onfray. Sua dor na época, era o desprezo agressivo que sofria por parte de sua mãe, que, por sua vez, tinha sido abandonada seguidas vezes pela família natural e pelas famílias substitutas. O pai parece ter sido uma figura, um ser negado e silenciado, “...massacrado pela brutalidade de um trabalho extenuante de operário agrícola e pelas misérias de uma vida da qual nunca se queixava”.
A mãe o entrega a um orfanato salesiano, nomeado pelo autor como Giel (composto lexical a partir dos termos franceses ‘gel’ (gelo) e fiel (fel)), em 1966. Onfray descreve a arquitetura do lugar, basicamente construído em granito escuro, como o projeto de uma construção carcerária, de um hospital ou quartel, cercado por oficina, estufa e uma fazenda para práticas agrícolas. O conjunto todo é maior que sua aldeia natal, contabilizando-se os seiscentos alunos mais os encarregados pelo ensino. Para o menino de dez anos, até então criado livre, aquilo lhe pareceu uma máquina opressora, uma ‘cloaca antropófaga’, em suas palavras. Nela, “carne e alma são vigiadas inclusive à distância, principalmente à distância”.
Nesse prefácio, que seria apenas um relato biográfico, Onfray já começa a se posicionar filosoficamente. Sua recusa da dicotomia platônica entre corpo/alma aparece logo à quinta página quando, ao descrever o caráter opressor do edifício do orfanato, afirma: “Para um garoto de dez anos, do alto de seu um metro, encontrar-se nos braços desse edifício oprime o corpo, logo, a alma”. Emerge, também, com esse posicionamento, a defesa do hedonismo, a revolta dionisíaca.
Do período no orfanato, Onfray relata humilhações freqüentes, falta de higiene e, conseqüente, horror ao corpo, trabalho exaustivo e disciplina rígida (“Não há um segundo sem um cheiro de terror.”), espancamentos e assédio sexual. A dor vivida nos tempos do orfanato brota nas palavras que compõem esse prefácio, demonstrando claramente as razões que silenciaram e postergaram por tantos anos essa escrita e essa releitura catárticas deste período da vida do autor. “Quatro anos, quatro invernos perpétuos, quatro vezes 252 dias de gelo e fel, mil dias diante do cadáver decomposto da minha infância. Aos quatorze anos, eu tinha mil anos – e a eternidade atrás de mim”.
Neste prefácio catártico, doloroso e, às vezes, de uma ironia corrosiva, o autor também chama nossa atenção para a hipocrisia, os preconceitos, o ódio ao intelectual e ao conhecimento presentes nas falas dos padres. Mostra também a diferença entre palavras e atos eclesiásticos: o amor ao próximo pregado no púlpito dando lugar às humilhações e violências; a justiça divina pregada pelo texto bíblico dando lugar à divisão dos alunos em função de suas classes sociais... Cada palavra nesse prefácio vaza um soluço engolido pelo autor (“Trago na garganta soluços engolidos há séculos”).
Entretanto, o livro não se compõe somente desse relato autobiográfico. Conforme menciona o autor, nesse prefácio, ele entrega a seus leitores parte das chaves de seu ser. Essas chaves são fundamentais para que entendamos os fundamentos existenciais do manifesto hedonista, caráter essencial de “A potência de existir”. Antes que leituras apressadas atribuam ao adjetivo hedonista significados puramente sexuais (fato corriqueiro numa sociedade reprimida e moralmente doente como a nossa), é importante circunscrever o que, nesta obra, se toma como hedonismo.
Mas nesta terça, feriado, tomei a decisão de terminar de ler o Rascunho que rodou a semana toda comigo e começar a postar sobre o livro do filósofo Michel Onfray, “A potência de existir – manifesto hedonista”. O projeto do Nietzsche, eu fico devendo, principalmente a mim, porque esses dois blogs que criei são muito mais uma forma de exercitar a escrita. Daí o conselho para que os leitores não esperem muito deles, não são nada além de exercícios de escrita e de apreciação de leituras.
Bom, chega de tergiversações, vamos aos fatos. Em post anterior, encabecei a imagem do livro com o seguinte texto: “a revolta dionisíaca na filosofia libertária de Michel Onfray”. E quem é o autor? Ele mesmo se apresenta no prefácio intitulado “Autorretrato com criança”. Começa afirmando que “morri aos dez anos de idade, numa bela tarde de outono, numa luz que dá vontade de eternidade”. Então, o autor passa a relatar o período doloroso de quatro anos, entre os dez e os quatorze, em que foi entregue pelos pais a um orfanato de padres salesianos, localizado na Baixa Normandia.
Antes disso, quer dizer, até os dez, o menino, filho de família muito pobre, viveu entregue à natureza na sua província natal de Chambois. “Antes de ler as Geórgicas eu as vivi, minha carne em contato direto com a matéria do mundo”, escreve Onfray. Sua dor na época, era o desprezo agressivo que sofria por parte de sua mãe, que, por sua vez, tinha sido abandonada seguidas vezes pela família natural e pelas famílias substitutas. O pai parece ter sido uma figura, um ser negado e silenciado, “...massacrado pela brutalidade de um trabalho extenuante de operário agrícola e pelas misérias de uma vida da qual nunca se queixava”.
A mãe o entrega a um orfanato salesiano, nomeado pelo autor como Giel (composto lexical a partir dos termos franceses ‘gel’ (gelo) e fiel (fel)), em 1966. Onfray descreve a arquitetura do lugar, basicamente construído em granito escuro, como o projeto de uma construção carcerária, de um hospital ou quartel, cercado por oficina, estufa e uma fazenda para práticas agrícolas. O conjunto todo é maior que sua aldeia natal, contabilizando-se os seiscentos alunos mais os encarregados pelo ensino. Para o menino de dez anos, até então criado livre, aquilo lhe pareceu uma máquina opressora, uma ‘cloaca antropófaga’, em suas palavras. Nela, “carne e alma são vigiadas inclusive à distância, principalmente à distância”.
Nesse prefácio, que seria apenas um relato biográfico, Onfray já começa a se posicionar filosoficamente. Sua recusa da dicotomia platônica entre corpo/alma aparece logo à quinta página quando, ao descrever o caráter opressor do edifício do orfanato, afirma: “Para um garoto de dez anos, do alto de seu um metro, encontrar-se nos braços desse edifício oprime o corpo, logo, a alma”. Emerge, também, com esse posicionamento, a defesa do hedonismo, a revolta dionisíaca.
Do período no orfanato, Onfray relata humilhações freqüentes, falta de higiene e, conseqüente, horror ao corpo, trabalho exaustivo e disciplina rígida (“Não há um segundo sem um cheiro de terror.”), espancamentos e assédio sexual. A dor vivida nos tempos do orfanato brota nas palavras que compõem esse prefácio, demonstrando claramente as razões que silenciaram e postergaram por tantos anos essa escrita e essa releitura catárticas deste período da vida do autor. “Quatro anos, quatro invernos perpétuos, quatro vezes 252 dias de gelo e fel, mil dias diante do cadáver decomposto da minha infância. Aos quatorze anos, eu tinha mil anos – e a eternidade atrás de mim”.
Neste prefácio catártico, doloroso e, às vezes, de uma ironia corrosiva, o autor também chama nossa atenção para a hipocrisia, os preconceitos, o ódio ao intelectual e ao conhecimento presentes nas falas dos padres. Mostra também a diferença entre palavras e atos eclesiásticos: o amor ao próximo pregado no púlpito dando lugar às humilhações e violências; a justiça divina pregada pelo texto bíblico dando lugar à divisão dos alunos em função de suas classes sociais... Cada palavra nesse prefácio vaza um soluço engolido pelo autor (“Trago na garganta soluços engolidos há séculos”).
Entretanto, o livro não se compõe somente desse relato autobiográfico. Conforme menciona o autor, nesse prefácio, ele entrega a seus leitores parte das chaves de seu ser. Essas chaves são fundamentais para que entendamos os fundamentos existenciais do manifesto hedonista, caráter essencial de “A potência de existir”. Antes que leituras apressadas atribuam ao adjetivo hedonista significados puramente sexuais (fato corriqueiro numa sociedade reprimida e moralmente doente como a nossa), é importante circunscrever o que, nesta obra, se toma como hedonismo.
Fernanda Meireles
Michel Onfray: a potência de existir (parte 2)
No capítulo 3 da primeira parte do livro, Michel Onfray desenvolve a proposta de um sistema hedonista. O autor começa por uma máxima de Nicolas-Sébastien Chamfort, a qual chama de imperativo categórico hedonista: “frua e faça fruir, sem fazer mal nem a você nem a ninguém, eis toda a moral”. Para Onfray tudo está dito aí porque a fruição de si não é possível ou pensável sem a fruição do outro, pois esta é definidora daquela. Quando não há o outro, como em Sade, não há fruição, não há moral.
Neste tópico, o autor procura resgatar a dignidade do termo hedonista, dado que já fora acusado de uma série de coisas em função de sua opção filosófica. Tais acusações, acredita o autor, resultam do distúrbio histérico que a simples menção da palavra prazer provoca. São processos de transferências em que atribuímos ao outro aquilo que nos habita. Onfray afirma ainda que sua proposta foi vinculada à fruição grosseira, ao apetite voraz e compulsivo da sociedade consumista. Mas então de que trata Onfray quando fala de hedonismo?
Onfray constrói em seu manifesto uma proposta de libertação do corpo, de uma descristianização do corpo, na qual a visão platônica e cristã seja substituída por uma visão ateológica e libertária. E quando Onfray fala do corpo, também está falando de alma, de ser e, portanto, sua proposta filosófica provoca desdobramentos que vão a uma estética cínica (rever também o preconceito ocidental que corroeu o significado deste adjetivo), a uma ética eletiva, a uma erótica solar, a uma bioética prometeica e a uma política libertária. Cada um destes desdobramentos constitui um capítulo da obra, justificando subtítulo manifesto hedonista.
Sobre isso diz Onfray: “Vencida a marca dos trinta livros publicados, sinto a necessidade de fazer um balanço da questão do hedonismo. Se eu precisasse reduzi-lo a uma interrogação, seria evidentemente a de Espinosa: ‘o que pode o corpo?’ Ao que preciso acrescentar: em que ele se tornou o objeto filosófico predileto? Depois, questões em cascata: Como pensar o artista? De que maneira instalar a ética no terreno estético? Que espaço deixar a Dionísio numa civilização totalmente submetida a Apolo? Qual a natureza da relação entre hedonismo e anarquismo? Segundo que modalidades uma filosofia é praticável? Que pode o corpo esperar das biotecnologias pós-modernas? Que relações biografia e escrita mantêm em filosofia? De acordo com que princípios são forjadas as mitologias filosóficas? Como descristianizar a episteme ocidental? Novas comunidades são possíveis?
Responder a essas interrogações requer uma série de desenvolvimentos constitutivos de um pensamento existencial radical. Donde a relatividade do artista, a ética imanente, a estética cínica, a política libertária, o nietzschianismo de esquerda, o materialismo sensualista, o utilitarismo jubiloso, a erótica solar, a bioética prometeica, o corpo faustiano, o hápax existencial, a vida filosófica, a historiografia alternativa, a ateologia pós-cristã, os contratos hedonistas – cada um deles, uma oportunidade para reencantar nosso tempos melancólicos com a proposição de um pensamento a viver.”
Em suma, o hedonismo em Onfray é um sistema filosófico totalizante que engloba toda as áreas de ação humana e que para ser praticado exige que nasçamos de novo, livres de toda a episteme judaico-cristã, puros e simples como qualquer corpo que respeita sua natureza primeira. Eu traduziria o hedonismo de Onfray neste provérbio de William Blake: “A luxúria do bode é a glória de Deus. A fúria do leão é a sabedoria de Deus. A nudez da mulher é a obra de Deus”.
Neste tópico, o autor procura resgatar a dignidade do termo hedonista, dado que já fora acusado de uma série de coisas em função de sua opção filosófica. Tais acusações, acredita o autor, resultam do distúrbio histérico que a simples menção da palavra prazer provoca. São processos de transferências em que atribuímos ao outro aquilo que nos habita. Onfray afirma ainda que sua proposta foi vinculada à fruição grosseira, ao apetite voraz e compulsivo da sociedade consumista. Mas então de que trata Onfray quando fala de hedonismo?
Onfray constrói em seu manifesto uma proposta de libertação do corpo, de uma descristianização do corpo, na qual a visão platônica e cristã seja substituída por uma visão ateológica e libertária. E quando Onfray fala do corpo, também está falando de alma, de ser e, portanto, sua proposta filosófica provoca desdobramentos que vão a uma estética cínica (rever também o preconceito ocidental que corroeu o significado deste adjetivo), a uma ética eletiva, a uma erótica solar, a uma bioética prometeica e a uma política libertária. Cada um destes desdobramentos constitui um capítulo da obra, justificando subtítulo manifesto hedonista.
Sobre isso diz Onfray: “Vencida a marca dos trinta livros publicados, sinto a necessidade de fazer um balanço da questão do hedonismo. Se eu precisasse reduzi-lo a uma interrogação, seria evidentemente a de Espinosa: ‘o que pode o corpo?’ Ao que preciso acrescentar: em que ele se tornou o objeto filosófico predileto? Depois, questões em cascata: Como pensar o artista? De que maneira instalar a ética no terreno estético? Que espaço deixar a Dionísio numa civilização totalmente submetida a Apolo? Qual a natureza da relação entre hedonismo e anarquismo? Segundo que modalidades uma filosofia é praticável? Que pode o corpo esperar das biotecnologias pós-modernas? Que relações biografia e escrita mantêm em filosofia? De acordo com que princípios são forjadas as mitologias filosóficas? Como descristianizar a episteme ocidental? Novas comunidades são possíveis?
Responder a essas interrogações requer uma série de desenvolvimentos constitutivos de um pensamento existencial radical. Donde a relatividade do artista, a ética imanente, a estética cínica, a política libertária, o nietzschianismo de esquerda, o materialismo sensualista, o utilitarismo jubiloso, a erótica solar, a bioética prometeica, o corpo faustiano, o hápax existencial, a vida filosófica, a historiografia alternativa, a ateologia pós-cristã, os contratos hedonistas – cada um deles, uma oportunidade para reencantar nosso tempos melancólicos com a proposição de um pensamento a viver.”
Em suma, o hedonismo em Onfray é um sistema filosófico totalizante que engloba toda as áreas de ação humana e que para ser praticado exige que nasçamos de novo, livres de toda a episteme judaico-cristã, puros e simples como qualquer corpo que respeita sua natureza primeira. Eu traduziria o hedonismo de Onfray neste provérbio de William Blake: “A luxúria do bode é a glória de Deus. A fúria do leão é a sabedoria de Deus. A nudez da mulher é a obra de Deus”.
Fernanda Meireles
domingo, 31 de outubro de 2010
Entre o espiritual e o material
EXISTIMOS NESSA FRONTEIRA, não muito bem delineada, entre o material e o espiritual. Somos criaturas feitas de matéria, mas temos algo mais. Somos átomos animados capazes de autorreflexão, de perguntar quem somos.
Devo dizer, de saída, que espiritual não implica algo sobrenatural e intangível. Uso a palavra para representar algo natural, mesmo intangível, pelo menos por enquanto.
Pois, se olharmos para o cérebro como o único local da mente, sabemos que é lá, na dança eletro-hormonal dos incontáveis neurônios, que é gerado o senso do "eu".
Infelizmente, vivemos meio perdidos na polarização artificial entre a matéria e o espírito e, com frequência, acabamos optando por um dos dois extremos, criando grandes crises sociais que podem terminar em atrocidades.
Vivemos numa época onde o materialismo acentuado -do querer antes de tudo, do eu antes do outro, do agora antes do legado-, está por causar consequências sérias.
Lembro-me das sábias linhas do filósofo Robert Pirsig, no clássico "Zen e a Arte da Manutenção de Motocicletas": "Nossa racionalidade não está movendo a sociedade para um mundo melhor. Ao contrário, ela a está distanciando disso".
Ele continua: "Na Renascença, quando a necessidade de comida, de roupas e abrigo eram dominantes, as coisas funcionavam bem.
Mas agora, que massas de pessoas não têm mais essas necessidades, essas estruturas antigas de funcionamento não são adequadas. Nosso modo de comportamento passa a ser visto como de fato é: emocionalmente oco, esteticamente sem sentido e espiritualmente vazio".
O ponto é claro: atingimos uma espécie de saturação material. Para chegar a isso, sacrificamos o componente espiritual. O material é reptiliano: "Eu quero, eu pego. Se não consigo, eu mato (metaforicamente ou de fato). O que quero é mais importante do que o que você quer".
Claro, progredimos muito, dando conforto a milhões de pessoas, mas, no frenesi do sucesso, deixamos de lado o que nos torna humanos. Não só nossas necessidades, mas nossa generosidade, nossa capacidade de dividir e construir juntos.
Quando nossa sobrevivência está garantida, recaímos em nosso modo reptiliano de agir -autocentrado- e esquecemos da comunidade.
A diferença entre nossa realidade e a de Pirsig, que escreveu essas linhas acima em 1974, é que um novo tipo de conscientização está surgindo, em que o senso de comunidade está migrando do local ao global.
Isso me deixa otimista.
Em todo o planeta, um número cada vez maior de pessoas entendeu já que os excessos materialistas da nossa geração precisam terminar. Não é apenas porque o materialismo desenfreado é superficial. É porque é letal, tanto para nós quanto para a vida à nossa volta.
Olhamos para nosso planeta de modo que não olhávamos 20 anos atrás. O sucesso do filme "Avatar" não teria sido o mesmo em 1990.
O momento está chegando para um novo tipo de espiritualidade, que nos levará a uma existência mais equilibrada, onde o material e o espiritual mantêm um balanço dinâmico. O material sem o espiritual é cego, e o espiritual sem o material é fantasia. Nossa humanidade reside na interseção dos dois.
Devo dizer, de saída, que espiritual não implica algo sobrenatural e intangível. Uso a palavra para representar algo natural, mesmo intangível, pelo menos por enquanto.
Pois, se olharmos para o cérebro como o único local da mente, sabemos que é lá, na dança eletro-hormonal dos incontáveis neurônios, que é gerado o senso do "eu".
Infelizmente, vivemos meio perdidos na polarização artificial entre a matéria e o espírito e, com frequência, acabamos optando por um dos dois extremos, criando grandes crises sociais que podem terminar em atrocidades.
Vivemos numa época onde o materialismo acentuado -do querer antes de tudo, do eu antes do outro, do agora antes do legado-, está por causar consequências sérias.
Lembro-me das sábias linhas do filósofo Robert Pirsig, no clássico "Zen e a Arte da Manutenção de Motocicletas": "Nossa racionalidade não está movendo a sociedade para um mundo melhor. Ao contrário, ela a está distanciando disso".
Ele continua: "Na Renascença, quando a necessidade de comida, de roupas e abrigo eram dominantes, as coisas funcionavam bem.
Mas agora, que massas de pessoas não têm mais essas necessidades, essas estruturas antigas de funcionamento não são adequadas. Nosso modo de comportamento passa a ser visto como de fato é: emocionalmente oco, esteticamente sem sentido e espiritualmente vazio".
O ponto é claro: atingimos uma espécie de saturação material. Para chegar a isso, sacrificamos o componente espiritual. O material é reptiliano: "Eu quero, eu pego. Se não consigo, eu mato (metaforicamente ou de fato). O que quero é mais importante do que o que você quer".
Claro, progredimos muito, dando conforto a milhões de pessoas, mas, no frenesi do sucesso, deixamos de lado o que nos torna humanos. Não só nossas necessidades, mas nossa generosidade, nossa capacidade de dividir e construir juntos.
Quando nossa sobrevivência está garantida, recaímos em nosso modo reptiliano de agir -autocentrado- e esquecemos da comunidade.
A diferença entre nossa realidade e a de Pirsig, que escreveu essas linhas acima em 1974, é que um novo tipo de conscientização está surgindo, em que o senso de comunidade está migrando do local ao global.
Isso me deixa otimista.
Em todo o planeta, um número cada vez maior de pessoas entendeu já que os excessos materialistas da nossa geração precisam terminar. Não é apenas porque o materialismo desenfreado é superficial. É porque é letal, tanto para nós quanto para a vida à nossa volta.
Olhamos para nosso planeta de modo que não olhávamos 20 anos atrás. O sucesso do filme "Avatar" não teria sido o mesmo em 1990.
O momento está chegando para um novo tipo de espiritualidade, que nos levará a uma existência mais equilibrada, onde o material e o espiritual mantêm um balanço dinâmico. O material sem o espiritual é cego, e o espiritual sem o material é fantasia. Nossa humanidade reside na interseção dos dois.
MARCELO GLEISER é professor de física teórica no Dartmouth College, em Hanover (EUA), e autor do livro "Criação Imperfeita
domingo, 24 de outubro de 2010
À procura do fim da trilha
A utopia da teoria unificada do Universo
O que vejo da Natureza é uma estrutura magnífica que podemos apenas compreender muito imperfeitamente.Albert Einstein
"TODA A FILOSOFIA baseia-se em apenas duas coisas: curiosidade e visão limitada [...] O problema é que queremos saber muito mais do que podemos ver." Assim escreveu o filósofo francês Bernard Le Bovier de Fontenelle em 1686. A afirmação não poderia ser mais propícia. Se entendemos por filosofia o esforço do intelecto humano em compreender quem somos e em que mundo vivemos, logo percebemos que, de fato, a mola que move nosso conhecimento é a curiosidade.
Já as nossas dificuldades, isto é, os limites do que podemos saber sobre o mundo, são consequência dessa "visão limitada", da miopia que nos permite ver apenas uma fração do que realmente ocorre à nossa volta. Daí que o conjunto do que criamos é, em essência, uma tentativa de aprimorar a nossa visão, de saciar a curiosidade que temos de saber cada vez mais sobre a realidade que nos cerca.
Podemos metaforicamente chamar de conhecimento a trilha que, aos poucos, vai abrindo espaço na imensa e sedutora floresta do desconhecimento. (Se esse conhecimento leva à sabedoria é uma outra questão.) A preocupação central dos filósofos e, nos últimos quatro séculos, dos cientistas, é precisamente ampliar essa trilha.
Uma questão fundamental é se essa trilha tem uma destinação final, que representaria o conhecimento "total" do mundo. Outra é se nós podemos chegar lá. Uma terceira é investigar quais seriam as consequências de chegarmos ou não ao final da trilha. Estas questões, que explorei em detalhe em meu livro "Criação Imperfeita" (Record, 368 págs., R$ 49,90), formam o arcabouço deste ensaio.
UNIDADE A noção de que tudo o que existe -das galáxias aos planetas, das pedras aos seres vivos- é manifestação duma unidade inerente a todas as coisas é muito antiga. Podemos argumentar que sua origem coincide ao menos com as religiões monoteístas: se tudo é criado por um Deus, tudo é parte desse Deus. Nele, encontramos a unidade de todas as coisas, como acreditava o faraó Akenaton em torno de 1350 a.C.
Já no taoísmo, tudo pode ser compreendido a partir da essência do Tao, onde todos os opostos são um. Com o advento da filosofia na Grécia, a questão tomou, ao menos inicialmente, uma orientação mais material: Tales, considerado o primeiro dos filósofos, já dizia que tudo vem duma única fonte de matéria.
Esse "absolutismo" material influenciou profundamente o pensamento ocidental. São vários os filósofos que buscaram construir um sistema em que tudo se baseia numa única entidade ou grupo de entidades, como as formas de Platão ou a mônada de Leibniz. Esse tipo de construção foi criticado pelo historiador das ideias Isaiah Berlin: "Uma afirmação do tipo 'Tudo consiste em...' ou 'Tudo é...', a menos que seja empírica, não significa nada, pois uma proposição que não pode ser contrariada ou questionada não contém informação".
Veja a ênfase no empirismo: para confirmarmos alguma suposição, ela precisa ser questionável, sua viabilidade tem que ser testável. Afinal, qualquer um pode tecer teorias sobre o mundo, convencido de que está correto. Mas, se suas hipóteses não puderem ser verificadas, serão de pouco uso para o resto do mundo. O valor da ciência está em proporcionar meios que tornam esse tipo de validação possível.
FIM DA TRILHA Imagine se fôssemos capazes de chegar a uma descrição completa do mundo, o "fim da trilha" Seria o clímax da razão humana, a confirmação de que somos, de fato, especiais. Não é à toa que tantas mentes brilhantes sucumbiram a essa tentação. Como não poderia deixar de ser, a ciência, ou melhor, os cientistas, não são uma exceção.
Na Renascença, Copérnico, Kepler e, mais tarde, Newton, falavam do cosmo como obra divina, e da ciência (ou, mais apropriadamente para a época, da filosofia natural) como ponte entre a razão humana e a de Deus. Para eles, o Criador, este geômetra, usou as leis da matemática na construção do mundo. Cabe aos astrônomos e aos filósofos naturais decifrar estas leis para conhecermos a "mente de Deus". O dialeto em comum entre os humanos e a divindade é a matemática.
Esse ímpeto intelectual consagrou o papel da simetria como a marca da obra divina: Deus criou o mundo da forma mais perfeita, usando as leis da matemática. A simetria passou a ser o princípio estético da Criação, equacionada com a verdade. As palavras do poeta John Keats ilustram a importância desta união: "A beleza é a verdade, a verdade a beleza".
Leia-se: a simetria é bela, a beleza é verdade e, portanto, a simetria é verdade. Esta estética encontra-se profundamente arraigada nas ciências físicas. E precisa mudar.
SIMETRIA E DOGMA Avançando no tempo, encontramos Einstein, que passou as duas últimas décadas de sua vida buscando pela chamada "teoria unificada", que visava provar que duas forças fundamentais da natureza, a gravidade e o eletromagnetismo, são, na verdade, manifestações de uma única força.
Por que Einstein acreditava nessa unidade fundamental? Curiosamente, não por alguma indicação empírica. Não havia experimento ou observação que sugerissem essa unificação entre as duas forças. Havia, sim, a intenção de Einstein de provar que a geometrização da natureza era possível, e que a união entre as duas forças fundamentais era consequência inevitável desta geometrização. Sua busca vinha mais da sua mente do que do mundo.
Como sabemos, Einstein falhou. Como falharam todos aqueles que se propuseram a encontrar tal união. Críticos modernos dizem que Einstein falhou por não ter incluído as duas outras forças fundamentais da natureza, que atuam dentro do núcleo atômico. Segundo eles, uma teoria unificada deve incluir todas as forças que regem o comportamento das partículas de matéria.
De fato, teorias de unificação atuais, infelizmente chamadas de "teorias de tudo", tentam demonstrar que as quatro forças são manifestações de uma única força. (De tudo as teorias não têm nada, pois estão relegadas a explicar "apenas" o comportamento das entidades fundamentais de matéria. Uma teoria de tudo da física das partículas não explica porque existe vida na Terra ou por que temos apenas uma Lua.)
SUPERCORDAS A candidata mais popular dessas teorias é a teoria de supercordas. Baseada em matemática elegante, ela propõe uma profunda mudança de paradigma: a matéria não é formada por pequenas entidades indivisíveis chamadas partículas; é formada por pequenas cordas, tubos de energia que, ao vibrar, reproduzem as partículas de matéria observadas nos experimentos.
A teoria de supercordas põe o conceito de simetria num novo patamar. Se antes a simetria era usada como ferramenta essencial na construção de explicações aproximadas da realidade física, agora passa a ser o conceito básico dessa realidade. Nas teorias de unificação modernas, simetria é dogma.
As simetrias que regem as interações entre as partículas de matéria não são como as do nosso dia a dia. Quando falamos de simetria, imaginamos um objeto simétrico, como um DVD, ou o rosto (quase simétrico!) duma pessoa. As simetrias da física de partículas são construções matemáticas que descrevem como elas interagem entre si: por exemplo, a atração elétrica entre um elétron e um próton.
FÉ Cada uma das três forças (a gravidade é diferente, suas simetrias atuam no espaço e no tempo) tem uma simetria associada. O objetivo da teoria de unificação é construir uma simetria que englobe todas as três, a "simetria das simetrias". A fé na unidade de todas as coisas é transportada para a física moderna.
Apesar do esforço de muitos e de mais de quatro décadas de experimentos, não temos nenhuma indicação de que essa unificação final exista. Claro, podemos sempre argumentar que a ausência de evidência não é evidência de ausência, que basta continuarmos a buscar que eventualmente encontraremos sinais da unidade profunda da natureza.
Também pensava assim, e dediquei muitos anos a essa busca. Hoje, penso diferente e vejo a busca por uma teoria de tudo como uma ilusão, uma consequência da influência do monoteísmo no pensamento científico. Acredito que esteja na hora de irmos em frente, criando uma nova estética para a ciência, baseada em assimetrias e não em simetrias.
LIMITES Não há dúvida de que a física precisa de simetrias e deve continuar a usá-las. Vemos sua importância em todos os campos de pesquisa. A questão é se uma teoria de tudo, como a metafórica trilha com um destino final mencionada acima, é uma proposta viável. Mesmo dentro dos parâmetros da física das partículas, isto é, restrita à descrição das partículas de matéria e suas interações, não vejo como a construção de uma teoria final seja possível.
Imagine que nosso conhecimento sobre o mundo caiba num círculo, o "círculo do conhecimento". Como cresce o círculo? Através de nossas observações sobre o mundo e nós mesmos. Essas observações, ao menos nas ciências, vêm do uso de instrumentos que ampliam nossa visão. O que os olhos não veem, os telescópios e microscópios veem.
Porém, é importante lembrar que todo instrumento tem o seu limite: vemos até um certo ponto, medimos com uma certa precisão e não além. Mesmo que os avanços da tecnologia permitam que a precisão de nossas medidas aumente, a informação que temos do mundo será sempre limitada. Em outras palavras, além do círculo do conhecimento -que sempre cresce- existe a escuridão do não saber.
TEORIA FINAL Voltando então à teoria final, é claro que se chegarmos a ela teremos conhecimento completo de todas as partículas de matéria e de como interagem entre si. Mas como poderemos ter certeza que, além do círculo, não existem efeitos ainda não previstos por essa teoria "final"? Visto que não podemos ter conhecimento completo sobre o mundo, jamais poderemos confirmar se essa teoria final é mesmo final, ou apenas mais um passo em direção a uma compreensão do mundo.
Certamente, unificações parciais são possíveis: existem já exemplos dela na física, como o eletromagnetismo (eletricidade + magnetismo). Experimentos que estão ocorrendo no Centro Europeu de Física Nuclear (CERN), na Suíça, podem até revelar sinais de que algumas das unificações propostas são viáveis. Mas uma unificação total e final não pertence ao empirismo que define as ciências físicas.
Quando menciono essas ideias, às vezes me dizem que estou sendo derrotista. Não é nada disso. Claro que devemos sempre continuar a buscar por descrições mais simples e completas do mundo natural. Essa é a função da ciência. O que me preocupa é o uso da noção de unidade de todas as coisas na física. Vejo nisso um esforço de equacionar a ciência com a religião e os cientistas a deuses que tudo sabem. As afirmações recentes de Stephen Hawking, de que a ciência hoje mostra que Deus é desnecessário, ilustram o meu ponto.
A ciência tem pouco a dizer sobre Deus ou sobre a fé. Sua missão não é tornar Deus desnecessário, mas proporcionar uma narrativa que explique da melhor forma possível como o mundo funciona. Dadas as limitações da sua estrutura -as hipóteses, aproximações e axiomas que usamos para basear nossas teorias-, sabemos, ou deveríamos saber, que a ciência não é completa e que o conhecimento do mundo também não. Precisamos de mais humildade em nosso confronto com o mundo.
ASSIMETRIAS O que aprendemos nas últimas quatro décadas é que são as assimetrias que estão por trás das estruturas que encontramos no Universo. Da origem da matéria à origem da vida, devemos nossa existência às imperfeições da natureza. Tomemos como exemplo a enigmática "quiralidade" das moléculas orgânicas. O termo vem da palavra grega para "mão".
Várias moléculas são quimicamente idênticas (os mesmos átomos), mas aparecem em dois tipos, um sendo a imagem no espelho do outro, tal qual as nossas mãos. Como Pasteur revelou há 150 anos, a vida prefere moléculas com um arranjo espacial bem específico. Hoje, identificamos que os aminoácidos que constituem as proteínas em seres vivos são todos "canhotos", enquanto os açúcares que compõem o DNA e o RNA são "destros".
Já ao serem sintetizados no laboratório, tanto os aminoácidos quanto os açúcares aparecem em misturas com 50% de cada tipo. Portanto, das duas opções, a vida escolhe apenas uma. Ninguém sabe por quê. Talvez, como sugeri num artigo recente com meus alunos, a escolha da quiralidade dependa das interações que ocorreram entre a química primitiva e o meio ambiente terrestre há 4 bilhões de anos. Se a vida existir em outros planetas, poderá ter quiralidade oposta à vida na Terra.
IMPERFEIÇÕES Ao evoluir, a vida só sobreviveu devido às mutações genéticas, que podemos interpretar como imperfeições do ciclo reprodutivo. Sem elas, os organismos não poderiam ter sobrevivido às várias mudanças ambientais que ocorreram na Terra. A complexidade explosiva da vida terrestre, a transição de seres unicelulares a seres multicelulares, é um feito notável de adaptação.
Ao olharmos para nossos vizinhos planetários, encontramos mundos estéreis, muito provavelmente sem vida no presente. Talvez encontremos vida em outros sistemas estelares, onde planetas giram em torno de estrelas de vários tipos. Mas, pelo que aprendemos da história da vida na Terra, muito provavelmente essas formas de vida serão simples; seres unicelulares sem muita complexidade. Vida multicelular, em particular vida inteligente, será muito mais rara.
Mesmo que exista na nossa galáxia -e não podemos afirmar se sim ou não-, as distâncias são tão vastas que, na prática, estamos sós. Como ilustração, se quiséssemos hoje ir até a estrela mais próxima ao Sol, a Alfa Centauro, te-ríamos que viajar por 110 mil anos. Não temos nenhuma indicação concreta de que existem outras inteligências espalhadas pela galáxia. Infelizmente, relatos de encontros com alienígenas não apresentam provas convincentes. Estamos mesmo sozinhos, ao menos por um bom tempo.
MORALIDADE CÓSMICA A meu ver, essa revelação tem a força de redefinir nossa relação com nós mesmos, com a vida e com o planeta. Somos como o Universo pensa sobre si próprio.
Nada mau para uma espécie que tem apenas conhecimento limitado da realidade. Se a Terra é rara, se a vida é rara e se a vida inteligente é mais rara ainda, nós, seres no ápice da cadeia evolutiva, temos a obrigação moral de preservar a vida a todo custo. Após séculos em que a Terra e seus habitantes deixaram de ser o centro do cosmo, nós, humanos, voltamos a ter importância universal.
Não por sermos emissários divinos, ou porque o cosmo de alguma forma tem algum plano para nós. Nossa importância vem da nossa raridade, do fato de que somos produto de acidentes e imperfeições, da fragilidade da vida num planeta que flutua precariamente num cosmo extremamente hostil. Nossa importância vem do poder que temos sobre o futuro da vida. Vem porque representamos a consciência cósmica -ao menos nesta esquina do Universo.
MARCELO GLEISER
O que vejo da Natureza é uma estrutura magnífica que podemos apenas compreender muito imperfeitamente.Albert Einstein
"TODA A FILOSOFIA baseia-se em apenas duas coisas: curiosidade e visão limitada [...] O problema é que queremos saber muito mais do que podemos ver." Assim escreveu o filósofo francês Bernard Le Bovier de Fontenelle em 1686. A afirmação não poderia ser mais propícia. Se entendemos por filosofia o esforço do intelecto humano em compreender quem somos e em que mundo vivemos, logo percebemos que, de fato, a mola que move nosso conhecimento é a curiosidade.
Já as nossas dificuldades, isto é, os limites do que podemos saber sobre o mundo, são consequência dessa "visão limitada", da miopia que nos permite ver apenas uma fração do que realmente ocorre à nossa volta. Daí que o conjunto do que criamos é, em essência, uma tentativa de aprimorar a nossa visão, de saciar a curiosidade que temos de saber cada vez mais sobre a realidade que nos cerca.
Podemos metaforicamente chamar de conhecimento a trilha que, aos poucos, vai abrindo espaço na imensa e sedutora floresta do desconhecimento. (Se esse conhecimento leva à sabedoria é uma outra questão.) A preocupação central dos filósofos e, nos últimos quatro séculos, dos cientistas, é precisamente ampliar essa trilha.
Uma questão fundamental é se essa trilha tem uma destinação final, que representaria o conhecimento "total" do mundo. Outra é se nós podemos chegar lá. Uma terceira é investigar quais seriam as consequências de chegarmos ou não ao final da trilha. Estas questões, que explorei em detalhe em meu livro "Criação Imperfeita" (Record, 368 págs., R$ 49,90), formam o arcabouço deste ensaio.
UNIDADE A noção de que tudo o que existe -das galáxias aos planetas, das pedras aos seres vivos- é manifestação duma unidade inerente a todas as coisas é muito antiga. Podemos argumentar que sua origem coincide ao menos com as religiões monoteístas: se tudo é criado por um Deus, tudo é parte desse Deus. Nele, encontramos a unidade de todas as coisas, como acreditava o faraó Akenaton em torno de 1350 a.C.
Já no taoísmo, tudo pode ser compreendido a partir da essência do Tao, onde todos os opostos são um. Com o advento da filosofia na Grécia, a questão tomou, ao menos inicialmente, uma orientação mais material: Tales, considerado o primeiro dos filósofos, já dizia que tudo vem duma única fonte de matéria.
Esse "absolutismo" material influenciou profundamente o pensamento ocidental. São vários os filósofos que buscaram construir um sistema em que tudo se baseia numa única entidade ou grupo de entidades, como as formas de Platão ou a mônada de Leibniz. Esse tipo de construção foi criticado pelo historiador das ideias Isaiah Berlin: "Uma afirmação do tipo 'Tudo consiste em...' ou 'Tudo é...', a menos que seja empírica, não significa nada, pois uma proposição que não pode ser contrariada ou questionada não contém informação".
Veja a ênfase no empirismo: para confirmarmos alguma suposição, ela precisa ser questionável, sua viabilidade tem que ser testável. Afinal, qualquer um pode tecer teorias sobre o mundo, convencido de que está correto. Mas, se suas hipóteses não puderem ser verificadas, serão de pouco uso para o resto do mundo. O valor da ciência está em proporcionar meios que tornam esse tipo de validação possível.
FIM DA TRILHA Imagine se fôssemos capazes de chegar a uma descrição completa do mundo, o "fim da trilha" Seria o clímax da razão humana, a confirmação de que somos, de fato, especiais. Não é à toa que tantas mentes brilhantes sucumbiram a essa tentação. Como não poderia deixar de ser, a ciência, ou melhor, os cientistas, não são uma exceção.
Na Renascença, Copérnico, Kepler e, mais tarde, Newton, falavam do cosmo como obra divina, e da ciência (ou, mais apropriadamente para a época, da filosofia natural) como ponte entre a razão humana e a de Deus. Para eles, o Criador, este geômetra, usou as leis da matemática na construção do mundo. Cabe aos astrônomos e aos filósofos naturais decifrar estas leis para conhecermos a "mente de Deus". O dialeto em comum entre os humanos e a divindade é a matemática.
Esse ímpeto intelectual consagrou o papel da simetria como a marca da obra divina: Deus criou o mundo da forma mais perfeita, usando as leis da matemática. A simetria passou a ser o princípio estético da Criação, equacionada com a verdade. As palavras do poeta John Keats ilustram a importância desta união: "A beleza é a verdade, a verdade a beleza".
Leia-se: a simetria é bela, a beleza é verdade e, portanto, a simetria é verdade. Esta estética encontra-se profundamente arraigada nas ciências físicas. E precisa mudar.
SIMETRIA E DOGMA Avançando no tempo, encontramos Einstein, que passou as duas últimas décadas de sua vida buscando pela chamada "teoria unificada", que visava provar que duas forças fundamentais da natureza, a gravidade e o eletromagnetismo, são, na verdade, manifestações de uma única força.
Por que Einstein acreditava nessa unidade fundamental? Curiosamente, não por alguma indicação empírica. Não havia experimento ou observação que sugerissem essa unificação entre as duas forças. Havia, sim, a intenção de Einstein de provar que a geometrização da natureza era possível, e que a união entre as duas forças fundamentais era consequência inevitável desta geometrização. Sua busca vinha mais da sua mente do que do mundo.
Como sabemos, Einstein falhou. Como falharam todos aqueles que se propuseram a encontrar tal união. Críticos modernos dizem que Einstein falhou por não ter incluído as duas outras forças fundamentais da natureza, que atuam dentro do núcleo atômico. Segundo eles, uma teoria unificada deve incluir todas as forças que regem o comportamento das partículas de matéria.
De fato, teorias de unificação atuais, infelizmente chamadas de "teorias de tudo", tentam demonstrar que as quatro forças são manifestações de uma única força. (De tudo as teorias não têm nada, pois estão relegadas a explicar "apenas" o comportamento das entidades fundamentais de matéria. Uma teoria de tudo da física das partículas não explica porque existe vida na Terra ou por que temos apenas uma Lua.)
SUPERCORDAS A candidata mais popular dessas teorias é a teoria de supercordas. Baseada em matemática elegante, ela propõe uma profunda mudança de paradigma: a matéria não é formada por pequenas entidades indivisíveis chamadas partículas; é formada por pequenas cordas, tubos de energia que, ao vibrar, reproduzem as partículas de matéria observadas nos experimentos.
A teoria de supercordas põe o conceito de simetria num novo patamar. Se antes a simetria era usada como ferramenta essencial na construção de explicações aproximadas da realidade física, agora passa a ser o conceito básico dessa realidade. Nas teorias de unificação modernas, simetria é dogma.
As simetrias que regem as interações entre as partículas de matéria não são como as do nosso dia a dia. Quando falamos de simetria, imaginamos um objeto simétrico, como um DVD, ou o rosto (quase simétrico!) duma pessoa. As simetrias da física de partículas são construções matemáticas que descrevem como elas interagem entre si: por exemplo, a atração elétrica entre um elétron e um próton.
FÉ Cada uma das três forças (a gravidade é diferente, suas simetrias atuam no espaço e no tempo) tem uma simetria associada. O objetivo da teoria de unificação é construir uma simetria que englobe todas as três, a "simetria das simetrias". A fé na unidade de todas as coisas é transportada para a física moderna.
Apesar do esforço de muitos e de mais de quatro décadas de experimentos, não temos nenhuma indicação de que essa unificação final exista. Claro, podemos sempre argumentar que a ausência de evidência não é evidência de ausência, que basta continuarmos a buscar que eventualmente encontraremos sinais da unidade profunda da natureza.
Também pensava assim, e dediquei muitos anos a essa busca. Hoje, penso diferente e vejo a busca por uma teoria de tudo como uma ilusão, uma consequência da influência do monoteísmo no pensamento científico. Acredito que esteja na hora de irmos em frente, criando uma nova estética para a ciência, baseada em assimetrias e não em simetrias.
LIMITES Não há dúvida de que a física precisa de simetrias e deve continuar a usá-las. Vemos sua importância em todos os campos de pesquisa. A questão é se uma teoria de tudo, como a metafórica trilha com um destino final mencionada acima, é uma proposta viável. Mesmo dentro dos parâmetros da física das partículas, isto é, restrita à descrição das partículas de matéria e suas interações, não vejo como a construção de uma teoria final seja possível.
Imagine que nosso conhecimento sobre o mundo caiba num círculo, o "círculo do conhecimento". Como cresce o círculo? Através de nossas observações sobre o mundo e nós mesmos. Essas observações, ao menos nas ciências, vêm do uso de instrumentos que ampliam nossa visão. O que os olhos não veem, os telescópios e microscópios veem.
Porém, é importante lembrar que todo instrumento tem o seu limite: vemos até um certo ponto, medimos com uma certa precisão e não além. Mesmo que os avanços da tecnologia permitam que a precisão de nossas medidas aumente, a informação que temos do mundo será sempre limitada. Em outras palavras, além do círculo do conhecimento -que sempre cresce- existe a escuridão do não saber.
TEORIA FINAL Voltando então à teoria final, é claro que se chegarmos a ela teremos conhecimento completo de todas as partículas de matéria e de como interagem entre si. Mas como poderemos ter certeza que, além do círculo, não existem efeitos ainda não previstos por essa teoria "final"? Visto que não podemos ter conhecimento completo sobre o mundo, jamais poderemos confirmar se essa teoria final é mesmo final, ou apenas mais um passo em direção a uma compreensão do mundo.
Certamente, unificações parciais são possíveis: existem já exemplos dela na física, como o eletromagnetismo (eletricidade + magnetismo). Experimentos que estão ocorrendo no Centro Europeu de Física Nuclear (CERN), na Suíça, podem até revelar sinais de que algumas das unificações propostas são viáveis. Mas uma unificação total e final não pertence ao empirismo que define as ciências físicas.
Quando menciono essas ideias, às vezes me dizem que estou sendo derrotista. Não é nada disso. Claro que devemos sempre continuar a buscar por descrições mais simples e completas do mundo natural. Essa é a função da ciência. O que me preocupa é o uso da noção de unidade de todas as coisas na física. Vejo nisso um esforço de equacionar a ciência com a religião e os cientistas a deuses que tudo sabem. As afirmações recentes de Stephen Hawking, de que a ciência hoje mostra que Deus é desnecessário, ilustram o meu ponto.
A ciência tem pouco a dizer sobre Deus ou sobre a fé. Sua missão não é tornar Deus desnecessário, mas proporcionar uma narrativa que explique da melhor forma possível como o mundo funciona. Dadas as limitações da sua estrutura -as hipóteses, aproximações e axiomas que usamos para basear nossas teorias-, sabemos, ou deveríamos saber, que a ciência não é completa e que o conhecimento do mundo também não. Precisamos de mais humildade em nosso confronto com o mundo.
ASSIMETRIAS O que aprendemos nas últimas quatro décadas é que são as assimetrias que estão por trás das estruturas que encontramos no Universo. Da origem da matéria à origem da vida, devemos nossa existência às imperfeições da natureza. Tomemos como exemplo a enigmática "quiralidade" das moléculas orgânicas. O termo vem da palavra grega para "mão".
Várias moléculas são quimicamente idênticas (os mesmos átomos), mas aparecem em dois tipos, um sendo a imagem no espelho do outro, tal qual as nossas mãos. Como Pasteur revelou há 150 anos, a vida prefere moléculas com um arranjo espacial bem específico. Hoje, identificamos que os aminoácidos que constituem as proteínas em seres vivos são todos "canhotos", enquanto os açúcares que compõem o DNA e o RNA são "destros".
Já ao serem sintetizados no laboratório, tanto os aminoácidos quanto os açúcares aparecem em misturas com 50% de cada tipo. Portanto, das duas opções, a vida escolhe apenas uma. Ninguém sabe por quê. Talvez, como sugeri num artigo recente com meus alunos, a escolha da quiralidade dependa das interações que ocorreram entre a química primitiva e o meio ambiente terrestre há 4 bilhões de anos. Se a vida existir em outros planetas, poderá ter quiralidade oposta à vida na Terra.
IMPERFEIÇÕES Ao evoluir, a vida só sobreviveu devido às mutações genéticas, que podemos interpretar como imperfeições do ciclo reprodutivo. Sem elas, os organismos não poderiam ter sobrevivido às várias mudanças ambientais que ocorreram na Terra. A complexidade explosiva da vida terrestre, a transição de seres unicelulares a seres multicelulares, é um feito notável de adaptação.
Ao olharmos para nossos vizinhos planetários, encontramos mundos estéreis, muito provavelmente sem vida no presente. Talvez encontremos vida em outros sistemas estelares, onde planetas giram em torno de estrelas de vários tipos. Mas, pelo que aprendemos da história da vida na Terra, muito provavelmente essas formas de vida serão simples; seres unicelulares sem muita complexidade. Vida multicelular, em particular vida inteligente, será muito mais rara.
Mesmo que exista na nossa galáxia -e não podemos afirmar se sim ou não-, as distâncias são tão vastas que, na prática, estamos sós. Como ilustração, se quiséssemos hoje ir até a estrela mais próxima ao Sol, a Alfa Centauro, te-ríamos que viajar por 110 mil anos. Não temos nenhuma indicação concreta de que existem outras inteligências espalhadas pela galáxia. Infelizmente, relatos de encontros com alienígenas não apresentam provas convincentes. Estamos mesmo sozinhos, ao menos por um bom tempo.
MORALIDADE CÓSMICA A meu ver, essa revelação tem a força de redefinir nossa relação com nós mesmos, com a vida e com o planeta. Somos como o Universo pensa sobre si próprio.
Nada mau para uma espécie que tem apenas conhecimento limitado da realidade. Se a Terra é rara, se a vida é rara e se a vida inteligente é mais rara ainda, nós, seres no ápice da cadeia evolutiva, temos a obrigação moral de preservar a vida a todo custo. Após séculos em que a Terra e seus habitantes deixaram de ser o centro do cosmo, nós, humanos, voltamos a ter importância universal.
Não por sermos emissários divinos, ou porque o cosmo de alguma forma tem algum plano para nós. Nossa importância vem da nossa raridade, do fato de que somos produto de acidentes e imperfeições, da fragilidade da vida num planeta que flutua precariamente num cosmo extremamente hostil. Nossa importância vem do poder que temos sobre o futuro da vida. Vem porque representamos a consciência cósmica -ao menos nesta esquina do Universo.
MARCELO GLEISER
domingo, 17 de outubro de 2010
Sobre a importância da ciência
PARECE PARADOXAL QUE, no início deste milênio, durante o que chamamos com orgulho de "era da ciência", tantos ainda acreditem em profecias de fim de mundo. Quem não se lembra do bug do milênio ou da enxurrada de absurdos ditos todos os dias sobre a previsão maia de fim de mundo no ano 2012?
Existe um cinismo cada vez maior com relação à ciência, um senso de que fomos traídos, de que promessas não foram cumpridas. Afinal, lutamos para curar doenças apenas para descobrir outras novas. Criamos tecnologias que pretendem simplificar nossas vidas, mas passamos cada vez mais tempo no trabalho. Pior ainda: tem sempre tanta coisa nova e tentadora no mercado que fica impossível acompanhar o passo da tecnologia.
Os mais jovens se comunicam de modo quase que incompreensível aos mais velhos, com Facebook, Twitter e textos em celulares. Podemos ir à Lua, mas a maior parte da população continua mal nutrida.
Consumimos o planeta com um apetite insaciável, criando uma devastação ecológica sem precedentes. Isso tudo graças à ciência? Ao menos, é assim que pensam os descontentes, mas não é nada disso.
Primeiro, a ciência não promete a redenção humana. Ela simplesmente se ocupa de compreender como funciona a natureza, ela é um corpo de conhecimento sobre o Universo e seus habitantes, vivos ou não, acumulado através de um processo constante de refinamento e testes conhecido como método científico.
A prática da ciência provê um modo de interagir com o mundo, expondo a essência criativa da natureza. Disso, aprendemos que a natureza é transformação, que a vida e a morte são parte de uma cadeia de criação e destruição perpetuada por todo o cosmo, dos átomos às estrelas e à vida. Nossa existência é parte desta transformação constante da matéria, onde todo elo é igualmente importante, do que é criado ao que é destruído.
A ciência pode não oferecer a salvação eterna, mas oferece a possibilidade de vivermos livres do medo irracional do desconhecido. Ao dar ao indivíduo a autonomia de pensar por si mesmo, ela oferece a liberdade da escolha informada. Ao transformar mistério em desafio, a ciência adiciona uma nova dimensão à vida, abrindo a porta para um novo tipo de espiritualidade, livre do dogmatismo das religiões organizadas.
A ciência não diz o que devemos fazer com o conhecimento que acumulamos. Essa decisão é nossa, em geral tomada pelos políticos que elegemos, ao menos numa sociedade democrática. A culpa dos usos mais nefastos da ciência deve ser dividida por toda a sociedade. Inclusive, mas não exclusivamente, pelos cientistas. Afinal, devemos culpar o inventor da pólvora pelas mortes por tiros e explosivos ao longo da história? Ou o inventor do microscópio pelas armas biológicas?
A ciência não contrariou nossas expectativas. Imagine um mundo sem antibióticos, TVs, aviões, carros. As pessoas vivendo no mato, sem os confortos tecnológicos modernos, caçando para comer. Quantos optariam por isso?
A culpa do que fazemos com o planeta é nossa, não da ciência. Apenas uma sociedade versada na ciência pode escolher o seu destino responsavelmente. Nosso futuro depende disso.
Existe um cinismo cada vez maior com relação à ciência, um senso de que fomos traídos, de que promessas não foram cumpridas. Afinal, lutamos para curar doenças apenas para descobrir outras novas. Criamos tecnologias que pretendem simplificar nossas vidas, mas passamos cada vez mais tempo no trabalho. Pior ainda: tem sempre tanta coisa nova e tentadora no mercado que fica impossível acompanhar o passo da tecnologia.
Os mais jovens se comunicam de modo quase que incompreensível aos mais velhos, com Facebook, Twitter e textos em celulares. Podemos ir à Lua, mas a maior parte da população continua mal nutrida.
Consumimos o planeta com um apetite insaciável, criando uma devastação ecológica sem precedentes. Isso tudo graças à ciência? Ao menos, é assim que pensam os descontentes, mas não é nada disso.
Primeiro, a ciência não promete a redenção humana. Ela simplesmente se ocupa de compreender como funciona a natureza, ela é um corpo de conhecimento sobre o Universo e seus habitantes, vivos ou não, acumulado através de um processo constante de refinamento e testes conhecido como método científico.
A prática da ciência provê um modo de interagir com o mundo, expondo a essência criativa da natureza. Disso, aprendemos que a natureza é transformação, que a vida e a morte são parte de uma cadeia de criação e destruição perpetuada por todo o cosmo, dos átomos às estrelas e à vida. Nossa existência é parte desta transformação constante da matéria, onde todo elo é igualmente importante, do que é criado ao que é destruído.
A ciência pode não oferecer a salvação eterna, mas oferece a possibilidade de vivermos livres do medo irracional do desconhecido. Ao dar ao indivíduo a autonomia de pensar por si mesmo, ela oferece a liberdade da escolha informada. Ao transformar mistério em desafio, a ciência adiciona uma nova dimensão à vida, abrindo a porta para um novo tipo de espiritualidade, livre do dogmatismo das religiões organizadas.
A ciência não diz o que devemos fazer com o conhecimento que acumulamos. Essa decisão é nossa, em geral tomada pelos políticos que elegemos, ao menos numa sociedade democrática. A culpa dos usos mais nefastos da ciência deve ser dividida por toda a sociedade. Inclusive, mas não exclusivamente, pelos cientistas. Afinal, devemos culpar o inventor da pólvora pelas mortes por tiros e explosivos ao longo da história? Ou o inventor do microscópio pelas armas biológicas?
A ciência não contrariou nossas expectativas. Imagine um mundo sem antibióticos, TVs, aviões, carros. As pessoas vivendo no mato, sem os confortos tecnológicos modernos, caçando para comer. Quantos optariam por isso?
A culpa do que fazemos com o planeta é nossa, não da ciência. Apenas uma sociedade versada na ciência pode escolher o seu destino responsavelmente. Nosso futuro depende disso.
MARCELO GLEISER é professor de física teórica no Dartmouth College, em Hanover (EUA), e autor do livro "Criação Imperfeita"
domingo, 19 de setembro de 2010
Quão rara é a vida?
NO DOMINGO PASSADO, escrevi sobre as recentes afirmações de Stephen Hawking. Para ele, a ciência demonstrou que Deus não é necessário para explicar a criação. Outro argumento que Hawking usou é que o Universo é especialmente propício à vida, em particular à vida humana. Mais uma vez vejo a necessidade de apresentar um ponto de vista contrário. Tudo o que sabemos sobre a evolução da vida na Terra aponta para a raridade dos seres vivos complexos. Estamos aqui não porque o Universo é propício à vida, mas apesar de sua hostilidade.
Note que, ao falarmos sobre vida, temos de distinguir entre vida primitiva (seres unicelulares) e vida complexa. Vida simples, bactérias de vários tipos e formas, deve mesmo ser abundante no Cosmos.
Na história da Terra -o único exemplo de vida que conhecemos-, os primeiros seres vivos surgiram tão logo foi possível. A Terra nasceu há 4,5 bilhões de anos e sua superfície se solidificou em torno de 3,9 bilhões de anos atrás. Os primeiros sinais de vida datam de pelo menos 3,5 bilhões de anos, e alguns cientistas acham que talvez possam ter 3,8 bilhões de anos. De qualquer modo, bastaram algumas centenas de milhões de anos de calma para a vida surgir. Não é muito em escalas de tempo planetárias.
Esses primeiros seres vivos, os procariontes, reinaram durante 2 bilhões de anos. Só então surgiram os eucariontes, também unicelulares, mas mais sofisticados. Os primeiros seres multicelulares (esponjas) só foram surgir em torno de 700 milhões de anos atrás.
Ou seja, por cerca de 3,5 bilhões de anos, só existiam seres unicelulares no nosso planeta. O que aprendemos com esses estudos é que a vida coevoluiu com a Terra. O oxigênio que existe hoje na atmosfera foi formado quando os procariontes descobriram a fotossíntese em torno de 2 bilhões de anos atrás. Estamos aqui porque oxigenaram o ar.
Devemos lembrar que seres multicelulares são mais frágeis, precisando de condições estáveis por longos períodos. Não é só ter água e a química correta. O planeta precisa ter uma órbita estável e temperaturas que não variem muito. Só temos as quatro estações e temperaturas estáveis porque nossa Lua é pesada.
Sua massa estabiliza a inclinação do eixo terrestre (a Terra é um pião inclinado de 23,5), permitindo a existência de água líquida durante longos períodos. Sem a Lua, a vida complexa seria muito difícil.
A Terra tem também dois "cobertores" que a protegem contra a radiação letal que vem do espaço: o seu campo magnético e a camada de ozônio. Viver perto de uma estrela não é moleza. Precisamos de seu calor, mas ele vem com muitas outras coisas nada favoráveis à vida.
Quem afirma que o Universo é propício à vida complexa deve dar uma passeada pelos outros planetas e luas do nosso Sistema Solar.
Ademais, o pulo para a vida multicelular inteligente também foi um acidente dos grandes. A vida não tem um plano que a leva à inteligência. A vida quer apenas estar bem adaptada ao seu ambiente. Os dinossauros existiram por 150 milhões de anos sem construir rádios ou aviões. Portanto, mesmo que exista vida fora da Terra, a vida inteligente será muito rara. Devemos celebrar nossa existência por sua raridade, e não por ser ordinária.
MARCELO GLEISER é professor de física teórica no Dartmouth College, em Hanover (EUA), e autor do livro "Criação Imperfeita"
Note que, ao falarmos sobre vida, temos de distinguir entre vida primitiva (seres unicelulares) e vida complexa. Vida simples, bactérias de vários tipos e formas, deve mesmo ser abundante no Cosmos.
Na história da Terra -o único exemplo de vida que conhecemos-, os primeiros seres vivos surgiram tão logo foi possível. A Terra nasceu há 4,5 bilhões de anos e sua superfície se solidificou em torno de 3,9 bilhões de anos atrás. Os primeiros sinais de vida datam de pelo menos 3,5 bilhões de anos, e alguns cientistas acham que talvez possam ter 3,8 bilhões de anos. De qualquer modo, bastaram algumas centenas de milhões de anos de calma para a vida surgir. Não é muito em escalas de tempo planetárias.
Esses primeiros seres vivos, os procariontes, reinaram durante 2 bilhões de anos. Só então surgiram os eucariontes, também unicelulares, mas mais sofisticados. Os primeiros seres multicelulares (esponjas) só foram surgir em torno de 700 milhões de anos atrás.
Ou seja, por cerca de 3,5 bilhões de anos, só existiam seres unicelulares no nosso planeta. O que aprendemos com esses estudos é que a vida coevoluiu com a Terra. O oxigênio que existe hoje na atmosfera foi formado quando os procariontes descobriram a fotossíntese em torno de 2 bilhões de anos atrás. Estamos aqui porque oxigenaram o ar.
Devemos lembrar que seres multicelulares são mais frágeis, precisando de condições estáveis por longos períodos. Não é só ter água e a química correta. O planeta precisa ter uma órbita estável e temperaturas que não variem muito. Só temos as quatro estações e temperaturas estáveis porque nossa Lua é pesada.
Sua massa estabiliza a inclinação do eixo terrestre (a Terra é um pião inclinado de 23,5), permitindo a existência de água líquida durante longos períodos. Sem a Lua, a vida complexa seria muito difícil.
A Terra tem também dois "cobertores" que a protegem contra a radiação letal que vem do espaço: o seu campo magnético e a camada de ozônio. Viver perto de uma estrela não é moleza. Precisamos de seu calor, mas ele vem com muitas outras coisas nada favoráveis à vida.
Quem afirma que o Universo é propício à vida complexa deve dar uma passeada pelos outros planetas e luas do nosso Sistema Solar.
Ademais, o pulo para a vida multicelular inteligente também foi um acidente dos grandes. A vida não tem um plano que a leva à inteligência. A vida quer apenas estar bem adaptada ao seu ambiente. Os dinossauros existiram por 150 milhões de anos sem construir rádios ou aviões. Portanto, mesmo que exista vida fora da Terra, a vida inteligente será muito rara. Devemos celebrar nossa existência por sua raridade, e não por ser ordinária.
MARCELO GLEISER é professor de física teórica no Dartmouth College, em Hanover (EUA), e autor do livro "Criação Imperfeita"
Marcadores:
ciência,
filosofia,
marcelo gleiser,
religião
domingo, 12 de setembro de 2010
Hawking e Deus: relação íntima
Stephen Hawking, o famoso físico da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, está mais uma vez ocupando manchetes e blogs pelo mundo afora. A razão é a publicação de seu livro "O Grandioso Design" ("The Grand Design"), com Leonard Mlodinow, do Caltech (Instituto de Tecnologia da Califórnia).
A atenção é consequência da afirmação feita por Hawking de que a física resolveu a questão da origem do Universo e que, portanto, Deus não é necessário. Na verdade, isso não passa de mais uma batalha numa guerra um tanto longa e inútil.
Em seu bestseller "Uma Breve História do Tempo", publicado em 1988, Hawking escreveu: "Se o Universo é contido em si mesmo, sem borda ou fronteira, não teria começo ou fim: simplesmente seria. Neste caso, qual o lugar de um criador?"
Mais adiante: "Se descobrirmos uma teoria completa, filósofos, cientistas e o público leigo tomariam parte na discussão de por que o Universo e nós existimos. Se encontrarmos a resposta, seria o grande triunfo da razão humana, pois, então, conheceríamos a mente de Deus".
Hawking afirma que tem novos argumentos que colocam Deus para escanteio de vez. Será?
A ideia dele, que já circula de formas diferentes desde os anos 70, vem do casamento da relatividade e da mecânica quântica para explicar a origem do Universo, isto é, como tudo veio do nada.
Primeiro, usamos as propriedades atrativas da gravidade para mostrar que o cosmo é uma solução com energia zero (o "nada" de onde tudo vem) das equações que descrevem sua evolução.
Segundo, como na mecânica quântica (que descreve elétrons, átomos etc.) tudo flutua, o Universo pode ser resultado de uma flutuação de energia nula a partir de uma entidade que "contêm" todos os Universos possíveis, o multiverso.
Nosso Universo é o que tem as propriedades certas para existir por tempo suficiente -quase 14 bilhões de anos- para formar estrelas, planetas e também vida.
Em meu livro "Criação Imperfeita", publicado em março, argumento exatamente o oposto. Descrevo como afirmações que defendem a existência de uma "teoria de tudo" são incompatíveis com a física.
As teorias que Hawking e Mlodinow usam para basear seus argumentos -teorias-M, vindas das supercordas- têm tanta evidência empírica quanto Deus.
É lamentável que físicos como Hawking estejam divulgando teorias especulativas como quase concluídas. A euforia na mídia é compreensível: o homem quer ser Deus.
O desafio das teorias a que Hawking se refere é justamente estabelecer qualquer traço de evidência observacional, até agora inexistente. Não sabemos nem mesmo se essas teorias fazem sentido. Certas noções, como a existência de um multiverso, não parecem ser testáveis.
Ademais, a existência de uma teoria final é incompatível com o caráter empírico da física, baseado na coleta gradual de dados. Não vejo como poderemos ter certeza de que uma teoria final é mesmo final.
Como nos mostra a história da ciência, surpresas ocorrem a toda hora. Talvez esteja na hora de Hawking deixar Deus em paz.
Leitores interessados podem ver uma comparação entre meu livro e o de Hawking no blog do jornal "New York Times": http://ideas.blogs.nytimes.com/2010/09/07/not-so-grand-design/
A atenção é consequência da afirmação feita por Hawking de que a física resolveu a questão da origem do Universo e que, portanto, Deus não é necessário. Na verdade, isso não passa de mais uma batalha numa guerra um tanto longa e inútil.
Em seu bestseller "Uma Breve História do Tempo", publicado em 1988, Hawking escreveu: "Se o Universo é contido em si mesmo, sem borda ou fronteira, não teria começo ou fim: simplesmente seria. Neste caso, qual o lugar de um criador?"
Mais adiante: "Se descobrirmos uma teoria completa, filósofos, cientistas e o público leigo tomariam parte na discussão de por que o Universo e nós existimos. Se encontrarmos a resposta, seria o grande triunfo da razão humana, pois, então, conheceríamos a mente de Deus".
Hawking afirma que tem novos argumentos que colocam Deus para escanteio de vez. Será?
A ideia dele, que já circula de formas diferentes desde os anos 70, vem do casamento da relatividade e da mecânica quântica para explicar a origem do Universo, isto é, como tudo veio do nada.
Primeiro, usamos as propriedades atrativas da gravidade para mostrar que o cosmo é uma solução com energia zero (o "nada" de onde tudo vem) das equações que descrevem sua evolução.
Segundo, como na mecânica quântica (que descreve elétrons, átomos etc.) tudo flutua, o Universo pode ser resultado de uma flutuação de energia nula a partir de uma entidade que "contêm" todos os Universos possíveis, o multiverso.
Nosso Universo é o que tem as propriedades certas para existir por tempo suficiente -quase 14 bilhões de anos- para formar estrelas, planetas e também vida.
Em meu livro "Criação Imperfeita", publicado em março, argumento exatamente o oposto. Descrevo como afirmações que defendem a existência de uma "teoria de tudo" são incompatíveis com a física.
As teorias que Hawking e Mlodinow usam para basear seus argumentos -teorias-M, vindas das supercordas- têm tanta evidência empírica quanto Deus.
É lamentável que físicos como Hawking estejam divulgando teorias especulativas como quase concluídas. A euforia na mídia é compreensível: o homem quer ser Deus.
O desafio das teorias a que Hawking se refere é justamente estabelecer qualquer traço de evidência observacional, até agora inexistente. Não sabemos nem mesmo se essas teorias fazem sentido. Certas noções, como a existência de um multiverso, não parecem ser testáveis.
Ademais, a existência de uma teoria final é incompatível com o caráter empírico da física, baseado na coleta gradual de dados. Não vejo como poderemos ter certeza de que uma teoria final é mesmo final.
Como nos mostra a história da ciência, surpresas ocorrem a toda hora. Talvez esteja na hora de Hawking deixar Deus em paz.
Leitores interessados podem ver uma comparação entre meu livro e o de Hawking no blog do jornal "New York Times": http://ideas.blogs.nytimes.com/2010/09/07/not-so-grand-design/
MARCELO GLEISER em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ciencia/fe1209201003.htm
Marcadores:
ciência,
filosofia,
física,
marcelo gleiser
sábado, 11 de setembro de 2010
domingo, 29 de agosto de 2010
Einstein, Bohr e a realidade
ATÉ QUE PONTO podemos conhecer o mundo? Alguns acreditam que podemos ir até o fim, encontrando respostas para as perguntas mais profundas sobre as operações da natureza. Outros acreditam que o conhecimento que podemos adquirir sobre o mundo tem limites. Esses limites não são apenas uma consequência dos nossos cérebros ou das ferramentas que usamos para estudar a realidade física. Fazem parte da própria natureza.
Dentro da história da ciência, talvez a melhor expressão dessa dicotomia seja encontrada nos famosos debates entre Albert Einstein e Niels Bohr, que se deram até a morte de Einstein em 1955.
Esses dois gigantes da física do século 20, que tinham grande respeito intelectual um pelo outro, trocaram opiniões em diversas ocasiões, tentando interpretar as misteriosas propriedades da ciência que ambos ajudaram a desenvolver: a estranha mecânica quântica, a física das moléculas, dos átomos e das partículas subatômicas.
Em 1905, Einstein publicou o artigo que considerava o mais revolucionário de sua obra. Nele, propôs que, diferentemente da visão prevalente na época, na qual a luz era vista como uma onda, ela também podia ser imaginada como feita de corpúsculos, mais tarde chamados de fótons. A questão era como algo podia ser onda e partícula ao mesmo tempo. A situação piorou em 1924, quando Louis de Broglie sugeriu que não só fótons, mas prótons e toda a matéria, também eram ondas.
A nova mecânica quântica impôs duas restrições fundamentais ao conhecimento: só podemos saber a probabilidade de encontrar uma partícula em algum lugar do espaço; o observador interage com o observado. Consequentemente, o determinismo da física clássica, a do nosso cotidiano, é apenas uma aproximação de uma realidade na qual o conhecimento completo parece ser uma impossibilidade.
Einstein não podia aceitar isso. Em carta a Max Born, que havia proposto a interpretação probabilística, escreveu: "A mecânica quântica demanda nossa atenção... A teoria funciona bem, mas não nos aproxima dos segredos do Velho. De qualquer forma, estou convencido que Ele não joga dados".
Para Einstein, uma descrição probabilística da natureza não podia ser a palavra final. A natureza era ordenada. Acreditava que, em nível mais profundo, tudo voltaria ao determinismo que conhecemos. Para Bohr, o sucesso da mecânica quântica falava por si mesmo. Via a relação entre observador e observado como uma expressão da nossa conexão com o mundo. Tanto que, quando recebeu a Ordem do Elefante da coroa dinamarquesa em 1947, escolheu o símbolo taoísta do yin e do yang como brasão.
As coisas permanecem em aberto. Experimentos que tentaram encontrar algum vestígio de uma estrutura mais profunda do que a probabilidade quântica falharam. Por outro lado, a mecânica quântica exibe propriedades bizarras: um sistema pode afetar o comportamento de outro a distâncias enormes. Einstein chamava isso de "ação fantasmagórica à distância". Existem efeitos não locais (sem a causa e o efeito que conhecemos tão bem) que parecem desafiar o espaço e o tempo. Einstein e Bohr adorariam saber que o debate continua.
Dentro da história da ciência, talvez a melhor expressão dessa dicotomia seja encontrada nos famosos debates entre Albert Einstein e Niels Bohr, que se deram até a morte de Einstein em 1955.
Esses dois gigantes da física do século 20, que tinham grande respeito intelectual um pelo outro, trocaram opiniões em diversas ocasiões, tentando interpretar as misteriosas propriedades da ciência que ambos ajudaram a desenvolver: a estranha mecânica quântica, a física das moléculas, dos átomos e das partículas subatômicas.
Em 1905, Einstein publicou o artigo que considerava o mais revolucionário de sua obra. Nele, propôs que, diferentemente da visão prevalente na época, na qual a luz era vista como uma onda, ela também podia ser imaginada como feita de corpúsculos, mais tarde chamados de fótons. A questão era como algo podia ser onda e partícula ao mesmo tempo. A situação piorou em 1924, quando Louis de Broglie sugeriu que não só fótons, mas prótons e toda a matéria, também eram ondas.
A nova mecânica quântica impôs duas restrições fundamentais ao conhecimento: só podemos saber a probabilidade de encontrar uma partícula em algum lugar do espaço; o observador interage com o observado. Consequentemente, o determinismo da física clássica, a do nosso cotidiano, é apenas uma aproximação de uma realidade na qual o conhecimento completo parece ser uma impossibilidade.
Einstein não podia aceitar isso. Em carta a Max Born, que havia proposto a interpretação probabilística, escreveu: "A mecânica quântica demanda nossa atenção... A teoria funciona bem, mas não nos aproxima dos segredos do Velho. De qualquer forma, estou convencido que Ele não joga dados".
Para Einstein, uma descrição probabilística da natureza não podia ser a palavra final. A natureza era ordenada. Acreditava que, em nível mais profundo, tudo voltaria ao determinismo que conhecemos. Para Bohr, o sucesso da mecânica quântica falava por si mesmo. Via a relação entre observador e observado como uma expressão da nossa conexão com o mundo. Tanto que, quando recebeu a Ordem do Elefante da coroa dinamarquesa em 1947, escolheu o símbolo taoísta do yin e do yang como brasão.
As coisas permanecem em aberto. Experimentos que tentaram encontrar algum vestígio de uma estrutura mais profunda do que a probabilidade quântica falharam. Por outro lado, a mecânica quântica exibe propriedades bizarras: um sistema pode afetar o comportamento de outro a distâncias enormes. Einstein chamava isso de "ação fantasmagórica à distância". Existem efeitos não locais (sem a causa e o efeito que conhecemos tão bem) que parecem desafiar o espaço e o tempo. Einstein e Bohr adorariam saber que o debate continua.
MARCELO GLEISER é professor de física teórica no Dartmouth College, em Hanover (EUA), e autor do livro "Criação Imperfeita"
domingo, 1 de agosto de 2010
Geometrias clássicas e contemporâneas
Euclides e a geometria
CÉSAR BENJAMIN
PASSOU DESPERCEBIDA a primeira tradução brasileira do livro mais editado no mundo, depois da Bíblia: "Os Elementos", de Euclides [trad. Irineu Bicudo, Ed. Unesp, 600 págs., R$ 81], o tratado científico mais importante da história. Quase nada sabemos do autor e das circunstâncias que cercaram a criação da obra no século 3º a.C. Por isso, e pela impressionante dimensão do trabalho, alguns já propuseram que Euclides fosse um nome coletivo e "Os Elementos", a obra de uma escola. Mas isso não é provável. A maioria dos estudiosos situa por volta de 295 a.C. o ponto médio da vida ativa do geômetra e aceita que ele estudou em Atenas até se transferir para Alexandria. Além dos "Elementos", autores antigos referem-se a onze livros seus, entre os quais um "Livro das Falácias", uma "Astronomia" e um tratado sobre música.
Houve outras obras com o mesmo título, que era usado para designar compilações de conhecimentos básicos. Mas elas se perderam, esmagadas pelo peso do tratado de Euclides. Em sua época, a matemática helênica já estava avançada, com uma tradição que remontava a Tales e Pitágoras, passando por Platão, Aristóteles e seus discípulos. "Euclides", diz Proclo, "juntou os elementos, ordenando muitos teoremas de Eudoxo, aperfeiçoando os de Teeteto e acrescentando demonstrações irrefutáveis que só tinham sido vagamente comprovadas por seus antecessores."
TRAJETÓRIA É difícil rastrear a trajetória da obra, sujeita por mais de 2.000 anos ao arbítrio de copistas, tradutores e comentadores, o que gerou diferentes traduções, traduções de traduções, versões resumidas, interpretações e interpolações. A primeira tradução árabe, feita por Al-Hajjãj no século 8º, registra no frontispício que "deixou de lado os supérfluos, preencheu as lacunas, corrigiu ou retirou os erros, até ter melhorado o livro e o tornado mais exato, e resumiu-o, conforme é encontrado na versão atual".
Poderíamos multiplicar tais exemplos. Em Lisboa, encontrei em um sebo "Los Elementos Geométricos del Famoso Euclides Megarense, Amplificados de Nuevas Demonstraciones por el Sargento General de Batalla Don Sebastian Fernandez de Medrano (1646-1705)"; já no título, o bravo general confunde o geômetra com um homônimo, Euclides de Megara.
O livro foi traduzido diversas vezes para o latim e o árabe na Idade Média, e para as mais importantes línguas vernáculas a partir do Renascimento. Até o século 19, as edições em grego adotaram como referência a de Teon de Alexandria, preparada cerca de 700 anos depois da época de Euclides.
Em 1808, porém, François Pey-rad constatou que um manuscrito trazido da Itália por Napoleão era uma versão mais próxima do original, iniciando pesquisas que culminaram no estabelecimento da edição de J.L. Heiberg, de 1888, hoje aceita como a mais fiel. Ela foi o ponto de partida da tradução que Irineu Bicudo realizou ao longo de dez anos, recém-publicada pela Editora Unesp. Um trabalho assim não se faz por dinheiro, mas por amor. Não há como exagerar a sua importância.
A ausência de um aparato crítico faz a edição brasileira (600 págs.) menor, em tamanho, que outras que a antecederam. A espanhola (Gredos), por exemplo, tem dois volumes e 772 páginas, enquanto a francesa (PUF) atinge quatro volumes e 2.024 páginas. Mas, no que é essencial, estamos diante de um trabalho cuidadoso e competente: comparado com as outras edições, o texto em português parece até mesmo mais fiel ao estilo seco de Euclides.
CIÊNCIA EMPÍRICA A geometria nasceu no Egito antigo como ciência empírica, um conjunto de métodos de mensuração necessários para reconstituir os limites das propriedades em seguida às inundações anuais do Nilo. O gênio grego a transformou em um sistema dedutivo, gigantesco salto.
Os gregos viram que os conhecimentos geométricos não poderiam depender da experiência ou da evidência sensorial, pois uma e outra nunca nos permitiriam entrar em contato com pontos, retas e planos, meras abstrações. Esses conhecimentos dependeriam de demonstrações. Sabiam, porém, que era impossível demonstrar tudo, pois isso provocaria uma regressão ao infinito, com cada afirmação sendo sempre remetida a afirmações anteriores. Para evitar isso, era preciso buscar o que Aristóteles chamou de "primeiros princípios", que, sendo evidentes, dispensariam as provas. A partir dessa âncora, a lógica nos conduziria a conhecimentos válidos, constituindo-se assim uma "ciência demonstrativa". Coube a Euclides realizar esse ideal.
Em um sistema desse tipo, hoje denominado axiomático, a escolha das proposições primeiras, ou postulados, devia atender três exigências principais: consistência (a partir deles não se podem deduzir logicamente proposições contraditórias), completude (entre quaisquer duas proposições contraditórias formuladas nos termos do sistema, uma pode ser corretamente demonstrada) e independência (nenhum postulado pode ser demonstrado a partir dos demais). (Em 1931, o matemático Kurt Gödel provou que sistemas axiomáticos usuais, como a aritmética e a teoria dos conjuntos, não podem preencher o requisito da completude, mas isso ultrapassa o tema deste artigo.)
Euclides deduziu toda a sua geometria -372 teoremas e 93 construções- a partir de cinco postulados, que aparecem acompanhados de 23 definições e cinco noções comuns.
EXCESSO Perguntado sobre como conseguira esculpir a "Pietà" a partir de um bloco de mármore, Michelangelo deu a famosa resposta: "Ela já estava lá; eu só tirei o excesso". Euclides poderia dizer o mesmo, lidando agora não com a matéria, mas com o espírito.
Os postulados aparecem no início dos "Elementos", mas isso não deve nos enganar: eles são o ponto de chegada de uma longa reflexão que vai desbastando o pensamento, muitas vezes tendo teoremas como ponto de partida. A ordem expositiva do sistema, de natureza lógica, não segue o caminho percorrido na sua formulação.
A escolha de apenas cinco postulados -todos simples, por definição- para deles derivar uma geometria completa é um trabalho de gênio. É o momento mais difícil da construção, pois as proposições que estamos acostumados a usar derivam de outras proposições, cujos pontos de partida desconhecemos.
DEMONSTRAÇÃO Euclides é exaustivo no que Leibniz chamou de "arte de demonstrar". Qualquer um de nós dispensaria diversas de suas demonstrações, por óbvias, mas não devemos criticar: a cultura helênica estava repleta de sofistas habilíssimos em contestar as verdades mais evidentes.
O esforço em superá-los resultou em uma construção intelectual de magnífica concepção: as proposições primeiras, indemonstráveis, são enunciadas explicitamente; os termos usados são objeto de definição prévia; e os teoremas são demonstrados (às vezes, com redução ao absurdo) sem o recurso aos sentidos ou à experiência empírica. Novas provas se sucedem, sempre por lógica, com base naquilo que foi provado antes. O resultado é uma rede na qual todas as proposições se comunicam, sustentando-se umas às outras. No lugar da compilação de receitas práticas ou de enunciados empíricos, legados por egípcios e babilônios, surge assim uma ciência racional.
O êxito foi inigualável. É o único caso, na história, em que um só livro fundou uma disciplina científica, instituindo um padrão que passou a servir de referência ao pensamento rigoroso. Graças a Euclides, a unidade e a estabilidade da geometria foram excepcionais. Por mais de 2.000 anos ela permaneceu fundamentalmente a mesma, com acréscimos, é claro, mas sem crises, confundindo- se por isso com os fundamentos da razão. Os demais ramos do conhecimento deviam inspirar-se nela.
NEWTON A obra de Isaac Newton (1642-1727) reforçou a importância da de Euclides. Na juventude, Newton foi traído pela aparente simplicidade dos "Elementos", cuja leitura largou, por considerá-la banal. Redimiu-se adulto: depois de reestudar o livro, percebeu que nos seus postulados estão implícitas, como veremos, as propriedades do espaço, tal como ele mesmo veio a conceber no seu sistema do mundo: um meio homogêneo, imutável, intemporal, infinito e infinitamente divisível, que existe independentemente do conteúdo físico que contém. Embora esse espaço absoluto tenha se tornado desnecessário na física contemporânea, não se deve subestimar a profundidade de sua concepção: nenhuma de tais características é acessível aos sentidos. A ideia euclidiana de uma extensão pura e de um espaço sem qualidades é extremamente abstrata.
No fim do século 18, "Os Elementos", de Euclides, e os "Principia", de Newton, davam ao conhecimento científico uma base imponente, sobre a qual Immanuel Kant (1724-1804), maravilhado, filosofou. Ele viu uma geometria dotada de validade universal, construída de modo racional e, ao mesmo tempo, passível de ser aplicada ao mundo físico. Identificou nisso um problema profundo: como um conhecimento que se desenvolve sem recorrer à realidade sensível pode ser a chave para decifrá-la? Como uma pura criação da razão humana pode representar, com tamanha perfeição, o mundo exterior? Que estranha conexão é essa, entre a mente do homem e as coisas?
Tendo Euclides e Newton como principais referências, Kant concluiu que espaço e tempo são "intuições puras", estruturas do próprio sujeito. A intuição a priori do espaço nos possibilita os juízos a priori da geometria, enquanto a intuição a priori do tempo funda as operações do cálculo, que se sucedem e duram. A construção kantiana sofreu duro golpe quando, primeiro, a geometria euclidiana e, depois, a física newtoniana perderam o caráter universal. Para entender isso, no caso da geometria, precisamos contemplar os cinco postulados.
POSTULADOS Uso a tradução de Irineu Bicudo, mas faço a ressalva de que o que Euclides chama de "reta" é o que hoje chamamos de "segmento de reta".
1. Fique postulado traçar uma reta a partir de todo ponto até todo ponto.
2. Também prolongar uma reta limitada, continuamente, sobre uma reta.
3. E, com todo centro e distância, descrever um círculo.
4. E serem iguais entre si todos os ângulos retos.
5. E, caso uma reta, caindo sobre duas retas, faça ângulos interiores e do mesmo lado menores que dois retos, sendo prolongadas as duas retas, ilimitadamente, encontrarem-se no lado no qual estão os menores que dois retos.
O primeiro postulado diz que somente uma reta pode ser desenhada entre dois pontos quaisquer, o que equivale a dizer que, se dois segmentos de reta têm as mesmas extremidades, todo o seu comprimento coincide; logo, o espaço é contínuo. O segundo postulado diz que quaisquer retas podem ser prolongadas indefinidamente; logo, o espaço é infinito em todas as direções. O terceiro postulado afirma a existência do círculo e enfatiza que o espaço, além de infinito, é infinitamente divisível, pois diz que o raio de um círculo pode ter qualquer comprimento.
O quarto postulado é desconcertante por sua aparente trivialidade. Note-se, no entanto, que Euclides não diz que os ângulos retos são retos, o que seria uma redundância; ele diz que são "iguais entre si", uma ideia que não está contida na definição de ângulo reto. Ao estabelecer que as figuras podem ocupar quaisquer posições e conservar suas formas, permanecendo "iguais entre si", o postulado implica um espaço homogêneo.
Os postulados, como se vê, definem as características do espaço -hoje seria mais rigoroso dizer de um tipo de espaço- e estabelecem a existência de pontos, retas e círculos, os elementos básicos da geometria de Euclides, com os quais ele demonstrará a existência de todas as outras figuras que define.
PARALELAS Mas Euclides sentiu a necessidade de também postular a existência de paralelas, necessárias em muitas demonstrações. Era uma encrenca, pois exigia encontrar uma afirmação que fosse evidente e, ao mesmo tempo, se referisse ao que acontece no espaço remoto: paralelas são retas coplanares que nunca se encontram. A solução do geômetra, mais uma vez, foi engenhosa: propôs um postulado que só fala de retas secantes, cuja existência é indiscutível, mas mantém implícita a existência de paralelas.
Mesmo assim, ele logo foi reconhecido como problemático. Ouçamos Proclo: "O fato de que as retas convergem quando os ângulos retos são diminuídos é certo e necessário; mas a afirmação de que chegarão a se encontrar é apenas verossímil, mas não necessária, na falta de um argumento que prove que isso é verdade para duas linhas retas. Pois o fato de que existam algumas linhas que se aproximam indefinidamente mas permanecem sem se tocar [asýmptotoi], por mais improvável e paradoxal que pareça, também é certo e está comprovado em relação a linhas de outro tipo. Por que, no caso das retas, não é possível ocorrer o mesmo que ocorre com as linhas mencionadas?". Proclo conclui que o quinto postulado "deve ser riscado dos postulados, pois se trata de um teorema repleto de dificuldades".
DEBATE Esse debate envolveu os grandes geômetras gregos, árabes e europeus durante mais de 2.000 anos, sem solução. Cresceram as suspeitas de que não se tratava de um verdadeiro postulado, mas as tentativas de manejá-lo como um teorema exigiam introduzir novos postulados igualmente problemáticos, que eram meros equivalentes lógicos do postulado de Euclides; configurava-se, assim, o erro que os filósofos chamam de petição de princípio, ou seja, adotar como ponto de partida de uma demonstração o mesmo argumento que será provado no fim dela. Tentou-se deduzir o quinto postulado dos demais, até que se provou que isso era impossível. Buscaram-se formulações alternativas, todas insuficientes. E, quando ele era simplesmente retirado, o sistema perdia o requisito da completude: muitos teoremas não podiam mais ser demonstrados.
Parecia impossível inserir consistentemente a afirmação de Euclides em seu próprio sistema. O postulado das paralelas, como ficou conhecido, permanecia como um corpo estranho, um expediente que preenchia uma lacuna no encadeamento lógico. D'Alembert (1717-83) disse que ele era "o escândalo da geometria", pois a credibilidade dos teoremas não pode ser maior do que o grau de credibilidade associado ao postulado que tenha menor credibilidade.
Dois pensadores estiveram perto da solução, o árabe Al-Khayyami (1048-1131) e o jesuíta italiano Giovanni Girolamo Saccheri (1667-1733). Ambos adotaram o caminho da redução ao absurdo. Aceitando o restante do sistema euclidiano e negando validade ao quinto postulado, pretendiam chegar a contradições, o que demonstraria a validade e a necessidade dele. Não sabemos bem até onde foi Al- Khayyami, mas Saccheri abandonou a empreitada quando começou a encontrar o que denominou "teoremas estranhos".
Teve nas mãos o bilhete premiado, mas não percebeu. Começara a descobrir uma outra geometria, mas viu nisso um erro. Estava preso à ideia milenar de que só a geometria de Euclides podia existir.
NOVAS GEOMETRIAS Só no século 19, um matemático de valor excepcional, o alemão Carl Friedrich Gauss (1777-1855), e dois matemáticos jovens, o húngaro János Bolyai (1802-60) e o russo Nikolai Lobachevski (1792-1856), trabalhando de forma independente, ousaram prosseguir até o fim na dedução dos "teoremas estranhos".
Em vez de encontrar contradições, como esperavam, chegaram a geometrias consistentes e completas, diferentes da euclidiana, mas sem defeito lógico. Gauss não divulgou seu trabalho, pois acreditou que ninguém o compreenderia. O inseguro Bolyai entregou o manuscrito ao pai, também matemático, que o enviou a Gauss sem saber que este último já tinha percorrido o mesmo caminho. O texto pioneiro de Lobachevski, por sua vez, denominava-se "Geometria Imaginária". Os descobridores pisavam em ovos: viam que as descobertas eram deveras estranhas. Não era para menos: Bolyai e Lobachevski, por exemplo, adotaram como postulado a afirmação de que por um ponto fora de uma reta é possível fazer passar mais de uma paralela à reta dada...
O trabalho dos três foi completado depois, magistralmente, por um aluno de Gauss, Bernhard Riemann (1826-66), cuja geometria nega a existência de paralelas. Ao contrário do espaço infinito de Euclides, o espaço de Riemann é finito, mas ilimitado, pois ele aplicou a noção de curvatura ao espaço tridimensional, em uma formulação muito abstrata, quase sempre mal compreendida. (Muito depois, essa "geometria imaginária" foi decisiva na formulação da relatividade geral, a teoria física mais importante do século 20.)
Para dar só um exemplo dos resultados discrepantes, em cada uma das geometrias a soma dos ângulos de um triângulo é diferente: sempre igual a 180º em Euclides, sempre menor que esse valor em Lobachevski e Bolyai, sempre maior em Riemann. Eugênio Beltrami, Felix Klein, Henri Poincaré e David Hilbert demonstraram em sequência, por diversas vias, que as novas geometrias tinham a mesma validade que a geometria de Euclides. Mais ainda: demonstraram que a eventual inconsistência de uma delas implicaria a inconsistência do próprio sistema euclidiano. Nunca mais poderíamos, como Saccheri, nos livrar dos "teoremas estranhos". Desde então, as geometrias se multiplicaram, mas, para nosso consolo, Sophus Lie (1842-99) demonstrou que não são infinitas.
Como é possível essa existência múltipla da verdade? Qual é, afinal, a geometria verdadeira? Ouçamos Einstein: "Não podemos nos interrogar se é verdade que por dois pontos passa uma única reta. Podemos apenas dizer que a geometria de Euclides trata de figuras, que ela chama de 'retas', às quais atribui a propriedade de serem determinadas univocamente por dois de seus pontos. O conceito de 'verdadeiro' não se aplica aos enunciados da geometria pura, pois com 'verdadeiro' nós costumamos, em última análise, designar a correspondência com um objeto 'real'. Porém, a geometria não se ocupa da relação entre seus conceitos e os objetos da experiência, mas apenas com os nexos lógicos desses conceitos entre si".
Teoremas incompatíveis entre si podem ser igualmente verdadeiros se estiverem perfeitamente integrados em diferentes sistemas lógicos. Compreender isso foi a culminância do ideal da ciência grega, de um modo que nem os gregos ousaram pensar.
MUNDO FÍSICO Sempre que avança, a ciência cria problemas novos. Por isso, sua marcha não pode ter fim. Se a matemática passou a admitir diferentes geometrias, qual delas se aplica ao mundo físico? No século 19, a questão era inédita. Gauss concluiu que a resposta dependeria da observação empírica. Com medições geodésicas, lançou-se em busca de uma prova experimental, mas seus esforços não foram conclusivos: nas escalas humanas, as geometrias convergem para padrões euclidianos. (Poincaré propôs outra solução: as geometrias são convenções, de modo que todas são aplicáveis; a euclidiana é apenas mais cômoda.)
Paradoxalmente, a culminação do ideal grego redimiu a geometria praticada por egípcios e babilônios, que ele mesmo havia superado. Seria mais correto dizer que houve uma bifurcação. Pois, ao lado de uma geometria física, novamente empírica, as pesquisas em geometria pura foram impulsionadas na direção de formulações ainda mais abstratas, em busca de procedimentos lógicos mais rigorosos.
Hilbert elaborou novos postulados de modo a apartá-los de qualquer representação sensível. Em vez de evocar objetos especificados, buscam estabelecer relações entre objetos genéricos e são manejados sem que contenham nenhum sentido, segundo regras puramente formais. Esse caráter hiperabstrato da matemática contemporânea foi sintetizado, não sem ironia, por Bertrand Russell: "A matemática é uma ciência na qual nunca sabemos do que estamos falando, nem se aquilo que estamos falando é verdadeiro".
Pobre Kant. Se a matemática trabalha com proposições destituídas de sentido, adaptáveis a qualquer conteúdo, então se desfaz o problema que o atormentou. A aplicabilidade das leis matemáticas ao real não decorre de uma harmonia maravilhosa entre o espírito e as coisas. Tais leis valem em nosso mundo simplesmente porque valem em todos os mundos possíveis.
Dan Michelin (Impa) e Francisco Antônio Doria (UFRJ) fizeram uma leitura amiga da primeira versão deste texto, com sugestões. Ele não poderia ter sido escrito sem exaustiva consulta, principalmente, aos ensaios do "Dicionário de Biografias Científicas" (Contraponto, 2007, 3 vols., 2.694 páginas).
CÉSAR BENJAMIN
PASSOU DESPERCEBIDA a primeira tradução brasileira do livro mais editado no mundo, depois da Bíblia: "Os Elementos", de Euclides [trad. Irineu Bicudo, Ed. Unesp, 600 págs., R$ 81], o tratado científico mais importante da história. Quase nada sabemos do autor e das circunstâncias que cercaram a criação da obra no século 3º a.C. Por isso, e pela impressionante dimensão do trabalho, alguns já propuseram que Euclides fosse um nome coletivo e "Os Elementos", a obra de uma escola. Mas isso não é provável. A maioria dos estudiosos situa por volta de 295 a.C. o ponto médio da vida ativa do geômetra e aceita que ele estudou em Atenas até se transferir para Alexandria. Além dos "Elementos", autores antigos referem-se a onze livros seus, entre os quais um "Livro das Falácias", uma "Astronomia" e um tratado sobre música.
Houve outras obras com o mesmo título, que era usado para designar compilações de conhecimentos básicos. Mas elas se perderam, esmagadas pelo peso do tratado de Euclides. Em sua época, a matemática helênica já estava avançada, com uma tradição que remontava a Tales e Pitágoras, passando por Platão, Aristóteles e seus discípulos. "Euclides", diz Proclo, "juntou os elementos, ordenando muitos teoremas de Eudoxo, aperfeiçoando os de Teeteto e acrescentando demonstrações irrefutáveis que só tinham sido vagamente comprovadas por seus antecessores."
TRAJETÓRIA É difícil rastrear a trajetória da obra, sujeita por mais de 2.000 anos ao arbítrio de copistas, tradutores e comentadores, o que gerou diferentes traduções, traduções de traduções, versões resumidas, interpretações e interpolações. A primeira tradução árabe, feita por Al-Hajjãj no século 8º, registra no frontispício que "deixou de lado os supérfluos, preencheu as lacunas, corrigiu ou retirou os erros, até ter melhorado o livro e o tornado mais exato, e resumiu-o, conforme é encontrado na versão atual".
Poderíamos multiplicar tais exemplos. Em Lisboa, encontrei em um sebo "Los Elementos Geométricos del Famoso Euclides Megarense, Amplificados de Nuevas Demonstraciones por el Sargento General de Batalla Don Sebastian Fernandez de Medrano (1646-1705)"; já no título, o bravo general confunde o geômetra com um homônimo, Euclides de Megara.
O livro foi traduzido diversas vezes para o latim e o árabe na Idade Média, e para as mais importantes línguas vernáculas a partir do Renascimento. Até o século 19, as edições em grego adotaram como referência a de Teon de Alexandria, preparada cerca de 700 anos depois da época de Euclides.
Em 1808, porém, François Pey-rad constatou que um manuscrito trazido da Itália por Napoleão era uma versão mais próxima do original, iniciando pesquisas que culminaram no estabelecimento da edição de J.L. Heiberg, de 1888, hoje aceita como a mais fiel. Ela foi o ponto de partida da tradução que Irineu Bicudo realizou ao longo de dez anos, recém-publicada pela Editora Unesp. Um trabalho assim não se faz por dinheiro, mas por amor. Não há como exagerar a sua importância.
A ausência de um aparato crítico faz a edição brasileira (600 págs.) menor, em tamanho, que outras que a antecederam. A espanhola (Gredos), por exemplo, tem dois volumes e 772 páginas, enquanto a francesa (PUF) atinge quatro volumes e 2.024 páginas. Mas, no que é essencial, estamos diante de um trabalho cuidadoso e competente: comparado com as outras edições, o texto em português parece até mesmo mais fiel ao estilo seco de Euclides.
CIÊNCIA EMPÍRICA A geometria nasceu no Egito antigo como ciência empírica, um conjunto de métodos de mensuração necessários para reconstituir os limites das propriedades em seguida às inundações anuais do Nilo. O gênio grego a transformou em um sistema dedutivo, gigantesco salto.
Os gregos viram que os conhecimentos geométricos não poderiam depender da experiência ou da evidência sensorial, pois uma e outra nunca nos permitiriam entrar em contato com pontos, retas e planos, meras abstrações. Esses conhecimentos dependeriam de demonstrações. Sabiam, porém, que era impossível demonstrar tudo, pois isso provocaria uma regressão ao infinito, com cada afirmação sendo sempre remetida a afirmações anteriores. Para evitar isso, era preciso buscar o que Aristóteles chamou de "primeiros princípios", que, sendo evidentes, dispensariam as provas. A partir dessa âncora, a lógica nos conduziria a conhecimentos válidos, constituindo-se assim uma "ciência demonstrativa". Coube a Euclides realizar esse ideal.
Em um sistema desse tipo, hoje denominado axiomático, a escolha das proposições primeiras, ou postulados, devia atender três exigências principais: consistência (a partir deles não se podem deduzir logicamente proposições contraditórias), completude (entre quaisquer duas proposições contraditórias formuladas nos termos do sistema, uma pode ser corretamente demonstrada) e independência (nenhum postulado pode ser demonstrado a partir dos demais). (Em 1931, o matemático Kurt Gödel provou que sistemas axiomáticos usuais, como a aritmética e a teoria dos conjuntos, não podem preencher o requisito da completude, mas isso ultrapassa o tema deste artigo.)
Euclides deduziu toda a sua geometria -372 teoremas e 93 construções- a partir de cinco postulados, que aparecem acompanhados de 23 definições e cinco noções comuns.
EXCESSO Perguntado sobre como conseguira esculpir a "Pietà" a partir de um bloco de mármore, Michelangelo deu a famosa resposta: "Ela já estava lá; eu só tirei o excesso". Euclides poderia dizer o mesmo, lidando agora não com a matéria, mas com o espírito.
Os postulados aparecem no início dos "Elementos", mas isso não deve nos enganar: eles são o ponto de chegada de uma longa reflexão que vai desbastando o pensamento, muitas vezes tendo teoremas como ponto de partida. A ordem expositiva do sistema, de natureza lógica, não segue o caminho percorrido na sua formulação.
A escolha de apenas cinco postulados -todos simples, por definição- para deles derivar uma geometria completa é um trabalho de gênio. É o momento mais difícil da construção, pois as proposições que estamos acostumados a usar derivam de outras proposições, cujos pontos de partida desconhecemos.
DEMONSTRAÇÃO Euclides é exaustivo no que Leibniz chamou de "arte de demonstrar". Qualquer um de nós dispensaria diversas de suas demonstrações, por óbvias, mas não devemos criticar: a cultura helênica estava repleta de sofistas habilíssimos em contestar as verdades mais evidentes.
O esforço em superá-los resultou em uma construção intelectual de magnífica concepção: as proposições primeiras, indemonstráveis, são enunciadas explicitamente; os termos usados são objeto de definição prévia; e os teoremas são demonstrados (às vezes, com redução ao absurdo) sem o recurso aos sentidos ou à experiência empírica. Novas provas se sucedem, sempre por lógica, com base naquilo que foi provado antes. O resultado é uma rede na qual todas as proposições se comunicam, sustentando-se umas às outras. No lugar da compilação de receitas práticas ou de enunciados empíricos, legados por egípcios e babilônios, surge assim uma ciência racional.
O êxito foi inigualável. É o único caso, na história, em que um só livro fundou uma disciplina científica, instituindo um padrão que passou a servir de referência ao pensamento rigoroso. Graças a Euclides, a unidade e a estabilidade da geometria foram excepcionais. Por mais de 2.000 anos ela permaneceu fundamentalmente a mesma, com acréscimos, é claro, mas sem crises, confundindo- se por isso com os fundamentos da razão. Os demais ramos do conhecimento deviam inspirar-se nela.
NEWTON A obra de Isaac Newton (1642-1727) reforçou a importância da de Euclides. Na juventude, Newton foi traído pela aparente simplicidade dos "Elementos", cuja leitura largou, por considerá-la banal. Redimiu-se adulto: depois de reestudar o livro, percebeu que nos seus postulados estão implícitas, como veremos, as propriedades do espaço, tal como ele mesmo veio a conceber no seu sistema do mundo: um meio homogêneo, imutável, intemporal, infinito e infinitamente divisível, que existe independentemente do conteúdo físico que contém. Embora esse espaço absoluto tenha se tornado desnecessário na física contemporânea, não se deve subestimar a profundidade de sua concepção: nenhuma de tais características é acessível aos sentidos. A ideia euclidiana de uma extensão pura e de um espaço sem qualidades é extremamente abstrata.
No fim do século 18, "Os Elementos", de Euclides, e os "Principia", de Newton, davam ao conhecimento científico uma base imponente, sobre a qual Immanuel Kant (1724-1804), maravilhado, filosofou. Ele viu uma geometria dotada de validade universal, construída de modo racional e, ao mesmo tempo, passível de ser aplicada ao mundo físico. Identificou nisso um problema profundo: como um conhecimento que se desenvolve sem recorrer à realidade sensível pode ser a chave para decifrá-la? Como uma pura criação da razão humana pode representar, com tamanha perfeição, o mundo exterior? Que estranha conexão é essa, entre a mente do homem e as coisas?
Tendo Euclides e Newton como principais referências, Kant concluiu que espaço e tempo são "intuições puras", estruturas do próprio sujeito. A intuição a priori do espaço nos possibilita os juízos a priori da geometria, enquanto a intuição a priori do tempo funda as operações do cálculo, que se sucedem e duram. A construção kantiana sofreu duro golpe quando, primeiro, a geometria euclidiana e, depois, a física newtoniana perderam o caráter universal. Para entender isso, no caso da geometria, precisamos contemplar os cinco postulados.
POSTULADOS Uso a tradução de Irineu Bicudo, mas faço a ressalva de que o que Euclides chama de "reta" é o que hoje chamamos de "segmento de reta".
1. Fique postulado traçar uma reta a partir de todo ponto até todo ponto.
2. Também prolongar uma reta limitada, continuamente, sobre uma reta.
3. E, com todo centro e distância, descrever um círculo.
4. E serem iguais entre si todos os ângulos retos.
5. E, caso uma reta, caindo sobre duas retas, faça ângulos interiores e do mesmo lado menores que dois retos, sendo prolongadas as duas retas, ilimitadamente, encontrarem-se no lado no qual estão os menores que dois retos.
O primeiro postulado diz que somente uma reta pode ser desenhada entre dois pontos quaisquer, o que equivale a dizer que, se dois segmentos de reta têm as mesmas extremidades, todo o seu comprimento coincide; logo, o espaço é contínuo. O segundo postulado diz que quaisquer retas podem ser prolongadas indefinidamente; logo, o espaço é infinito em todas as direções. O terceiro postulado afirma a existência do círculo e enfatiza que o espaço, além de infinito, é infinitamente divisível, pois diz que o raio de um círculo pode ter qualquer comprimento.
O quarto postulado é desconcertante por sua aparente trivialidade. Note-se, no entanto, que Euclides não diz que os ângulos retos são retos, o que seria uma redundância; ele diz que são "iguais entre si", uma ideia que não está contida na definição de ângulo reto. Ao estabelecer que as figuras podem ocupar quaisquer posições e conservar suas formas, permanecendo "iguais entre si", o postulado implica um espaço homogêneo.
Os postulados, como se vê, definem as características do espaço -hoje seria mais rigoroso dizer de um tipo de espaço- e estabelecem a existência de pontos, retas e círculos, os elementos básicos da geometria de Euclides, com os quais ele demonstrará a existência de todas as outras figuras que define.
PARALELAS Mas Euclides sentiu a necessidade de também postular a existência de paralelas, necessárias em muitas demonstrações. Era uma encrenca, pois exigia encontrar uma afirmação que fosse evidente e, ao mesmo tempo, se referisse ao que acontece no espaço remoto: paralelas são retas coplanares que nunca se encontram. A solução do geômetra, mais uma vez, foi engenhosa: propôs um postulado que só fala de retas secantes, cuja existência é indiscutível, mas mantém implícita a existência de paralelas.
Mesmo assim, ele logo foi reconhecido como problemático. Ouçamos Proclo: "O fato de que as retas convergem quando os ângulos retos são diminuídos é certo e necessário; mas a afirmação de que chegarão a se encontrar é apenas verossímil, mas não necessária, na falta de um argumento que prove que isso é verdade para duas linhas retas. Pois o fato de que existam algumas linhas que se aproximam indefinidamente mas permanecem sem se tocar [asýmptotoi], por mais improvável e paradoxal que pareça, também é certo e está comprovado em relação a linhas de outro tipo. Por que, no caso das retas, não é possível ocorrer o mesmo que ocorre com as linhas mencionadas?". Proclo conclui que o quinto postulado "deve ser riscado dos postulados, pois se trata de um teorema repleto de dificuldades".
DEBATE Esse debate envolveu os grandes geômetras gregos, árabes e europeus durante mais de 2.000 anos, sem solução. Cresceram as suspeitas de que não se tratava de um verdadeiro postulado, mas as tentativas de manejá-lo como um teorema exigiam introduzir novos postulados igualmente problemáticos, que eram meros equivalentes lógicos do postulado de Euclides; configurava-se, assim, o erro que os filósofos chamam de petição de princípio, ou seja, adotar como ponto de partida de uma demonstração o mesmo argumento que será provado no fim dela. Tentou-se deduzir o quinto postulado dos demais, até que se provou que isso era impossível. Buscaram-se formulações alternativas, todas insuficientes. E, quando ele era simplesmente retirado, o sistema perdia o requisito da completude: muitos teoremas não podiam mais ser demonstrados.
Parecia impossível inserir consistentemente a afirmação de Euclides em seu próprio sistema. O postulado das paralelas, como ficou conhecido, permanecia como um corpo estranho, um expediente que preenchia uma lacuna no encadeamento lógico. D'Alembert (1717-83) disse que ele era "o escândalo da geometria", pois a credibilidade dos teoremas não pode ser maior do que o grau de credibilidade associado ao postulado que tenha menor credibilidade.
Dois pensadores estiveram perto da solução, o árabe Al-Khayyami (1048-1131) e o jesuíta italiano Giovanni Girolamo Saccheri (1667-1733). Ambos adotaram o caminho da redução ao absurdo. Aceitando o restante do sistema euclidiano e negando validade ao quinto postulado, pretendiam chegar a contradições, o que demonstraria a validade e a necessidade dele. Não sabemos bem até onde foi Al- Khayyami, mas Saccheri abandonou a empreitada quando começou a encontrar o que denominou "teoremas estranhos".
Teve nas mãos o bilhete premiado, mas não percebeu. Começara a descobrir uma outra geometria, mas viu nisso um erro. Estava preso à ideia milenar de que só a geometria de Euclides podia existir.
NOVAS GEOMETRIAS Só no século 19, um matemático de valor excepcional, o alemão Carl Friedrich Gauss (1777-1855), e dois matemáticos jovens, o húngaro János Bolyai (1802-60) e o russo Nikolai Lobachevski (1792-1856), trabalhando de forma independente, ousaram prosseguir até o fim na dedução dos "teoremas estranhos".
Em vez de encontrar contradições, como esperavam, chegaram a geometrias consistentes e completas, diferentes da euclidiana, mas sem defeito lógico. Gauss não divulgou seu trabalho, pois acreditou que ninguém o compreenderia. O inseguro Bolyai entregou o manuscrito ao pai, também matemático, que o enviou a Gauss sem saber que este último já tinha percorrido o mesmo caminho. O texto pioneiro de Lobachevski, por sua vez, denominava-se "Geometria Imaginária". Os descobridores pisavam em ovos: viam que as descobertas eram deveras estranhas. Não era para menos: Bolyai e Lobachevski, por exemplo, adotaram como postulado a afirmação de que por um ponto fora de uma reta é possível fazer passar mais de uma paralela à reta dada...
O trabalho dos três foi completado depois, magistralmente, por um aluno de Gauss, Bernhard Riemann (1826-66), cuja geometria nega a existência de paralelas. Ao contrário do espaço infinito de Euclides, o espaço de Riemann é finito, mas ilimitado, pois ele aplicou a noção de curvatura ao espaço tridimensional, em uma formulação muito abstrata, quase sempre mal compreendida. (Muito depois, essa "geometria imaginária" foi decisiva na formulação da relatividade geral, a teoria física mais importante do século 20.)
Para dar só um exemplo dos resultados discrepantes, em cada uma das geometrias a soma dos ângulos de um triângulo é diferente: sempre igual a 180º em Euclides, sempre menor que esse valor em Lobachevski e Bolyai, sempre maior em Riemann. Eugênio Beltrami, Felix Klein, Henri Poincaré e David Hilbert demonstraram em sequência, por diversas vias, que as novas geometrias tinham a mesma validade que a geometria de Euclides. Mais ainda: demonstraram que a eventual inconsistência de uma delas implicaria a inconsistência do próprio sistema euclidiano. Nunca mais poderíamos, como Saccheri, nos livrar dos "teoremas estranhos". Desde então, as geometrias se multiplicaram, mas, para nosso consolo, Sophus Lie (1842-99) demonstrou que não são infinitas.
Como é possível essa existência múltipla da verdade? Qual é, afinal, a geometria verdadeira? Ouçamos Einstein: "Não podemos nos interrogar se é verdade que por dois pontos passa uma única reta. Podemos apenas dizer que a geometria de Euclides trata de figuras, que ela chama de 'retas', às quais atribui a propriedade de serem determinadas univocamente por dois de seus pontos. O conceito de 'verdadeiro' não se aplica aos enunciados da geometria pura, pois com 'verdadeiro' nós costumamos, em última análise, designar a correspondência com um objeto 'real'. Porém, a geometria não se ocupa da relação entre seus conceitos e os objetos da experiência, mas apenas com os nexos lógicos desses conceitos entre si".
Teoremas incompatíveis entre si podem ser igualmente verdadeiros se estiverem perfeitamente integrados em diferentes sistemas lógicos. Compreender isso foi a culminância do ideal da ciência grega, de um modo que nem os gregos ousaram pensar.
MUNDO FÍSICO Sempre que avança, a ciência cria problemas novos. Por isso, sua marcha não pode ter fim. Se a matemática passou a admitir diferentes geometrias, qual delas se aplica ao mundo físico? No século 19, a questão era inédita. Gauss concluiu que a resposta dependeria da observação empírica. Com medições geodésicas, lançou-se em busca de uma prova experimental, mas seus esforços não foram conclusivos: nas escalas humanas, as geometrias convergem para padrões euclidianos. (Poincaré propôs outra solução: as geometrias são convenções, de modo que todas são aplicáveis; a euclidiana é apenas mais cômoda.)
Paradoxalmente, a culminação do ideal grego redimiu a geometria praticada por egípcios e babilônios, que ele mesmo havia superado. Seria mais correto dizer que houve uma bifurcação. Pois, ao lado de uma geometria física, novamente empírica, as pesquisas em geometria pura foram impulsionadas na direção de formulações ainda mais abstratas, em busca de procedimentos lógicos mais rigorosos.
Hilbert elaborou novos postulados de modo a apartá-los de qualquer representação sensível. Em vez de evocar objetos especificados, buscam estabelecer relações entre objetos genéricos e são manejados sem que contenham nenhum sentido, segundo regras puramente formais. Esse caráter hiperabstrato da matemática contemporânea foi sintetizado, não sem ironia, por Bertrand Russell: "A matemática é uma ciência na qual nunca sabemos do que estamos falando, nem se aquilo que estamos falando é verdadeiro".
Pobre Kant. Se a matemática trabalha com proposições destituídas de sentido, adaptáveis a qualquer conteúdo, então se desfaz o problema que o atormentou. A aplicabilidade das leis matemáticas ao real não decorre de uma harmonia maravilhosa entre o espírito e as coisas. Tais leis valem em nosso mundo simplesmente porque valem em todos os mundos possíveis.
Dan Michelin (Impa) e Francisco Antônio Doria (UFRJ) fizeram uma leitura amiga da primeira versão deste texto, com sugestões. Ele não poderia ter sido escrito sem exaustiva consulta, principalmente, aos ensaios do "Dicionário de Biografias Científicas" (Contraponto, 2007, 3 vols., 2.694 páginas).
O erro de Kepler
Em 1596, com o furor de uma mente devota, o jovem Johannes Kepler, então com apenas 25 anos, publica seu primeiro livro, "Mysterium Cosmographicum" ou "O Mistério Cosmográfico". Nele, o astrônomo principiante propõe nada menos do que a solução para a estrutura do Cosmo, o que acreditava ser o plano divino da Criação.
Tudo se deu durante uma aula que ministrava para um punhado de estudantes desinteressados. Quando explicava as conjunções dos planetas Júpiter e Saturno, Kepler se perguntou se o fato de Saturno estar aproximadamente duas vezes mais longe do Sol do que Júpiter era sintoma de uma ordem mais profunda: talvez a estrutura cósmica seguisse as regras da geometria. Fosse esse o caso, a mente humana teria acesso aos segredos mais profundos da Criação e à mente de Deus. E a língua em comum entre homem e Deus seria a matemática.
Após várias tentativas frustradas, Kepler obteve a solução que tanto almejava. Na época, só eram conhecidos seis planetas, de Mercúrio a Saturno. Urano e Netuno, invisíveis aos olhos, só foram descobertos bem mais tarde. Kepler, numa visão genial, imaginou que o cosmo seria organizado a partir dos cinco sólidos platônicos, os cinco objetos mais simétricos que existem em três dimensões. Conhecemos bem dois deles, o cubo e a pirâmide (tetraedro). Kepler entendeu que, ao colocar um sólido dentro do outro, como aquelas bonecas russas, com esferas entre cada um deles, poderia acomodar apenas seis planetas: Sol no centro; esfera (Mercúrio); sólido; esfera (Vênus); sólido; esfera (Terra); sólido etc. Portanto, o número de planetas seria decorrente do número de sólidos perfeitos!
Kepler foi além. Como os sólidos obedecem às regras da geometria, seu arranjo determina também as distâncias entre si e, portanto, entre as esferas que os cercam. Experimentando com padrões diferentes, Kepler encontrou um que previa as distâncias entre os planetas com uma precisão de 5% -quando comparado com os dados astronômicos da época, um feito sensacional.
Para um homem que acreditava profundamente num Deus matemático, criador da ordem cósmica, nada mais natural do que uma solução geométrica. Kepler via seu arranjo como a expressão do sonho pitagórico de obter uma explicação geométrica para os mistérios do mundo. Para ele, essa era a teoria final.
Podemos aprender algo com Kepler. Soubesse ele da existência de outros planetas, Urano e Netuno, como teria reagido? Certamente, seu sonho de uma ordem geométrica para o Cosmo dependia do que se sabia na época. Seu erro foi ter dado ao estado do conhecimento empírico do mundo uma finalidade que não existe. Para Johannes Kepler, era inimaginável que o Cosmo pudesse se desviar de sua estrutura geométrica. No entanto, sabemos que nosso conhecimento do mundo é limitado, e será sempre.
Por isso, devemos julgar declarações sobre teorias de tudo ou teorias finais com enorme ceticismo. A história nos ensina que o progresso científico caminha de mãos dadas com nossa habilidade de medir a Natureza. Achar que a mente humana pode imaginar o mundo antes de medi-lo pode ocasionalmente dar certo. Mas, em geral, leva a mundos que existem apenas na imaginação.
MARCELO GLEISER é professor de física teórica no Dartmouth College, em Hanover (EUA), e autor do livro "Criação Imperfeita"
Tudo se deu durante uma aula que ministrava para um punhado de estudantes desinteressados. Quando explicava as conjunções dos planetas Júpiter e Saturno, Kepler se perguntou se o fato de Saturno estar aproximadamente duas vezes mais longe do Sol do que Júpiter era sintoma de uma ordem mais profunda: talvez a estrutura cósmica seguisse as regras da geometria. Fosse esse o caso, a mente humana teria acesso aos segredos mais profundos da Criação e à mente de Deus. E a língua em comum entre homem e Deus seria a matemática.
Após várias tentativas frustradas, Kepler obteve a solução que tanto almejava. Na época, só eram conhecidos seis planetas, de Mercúrio a Saturno. Urano e Netuno, invisíveis aos olhos, só foram descobertos bem mais tarde. Kepler, numa visão genial, imaginou que o cosmo seria organizado a partir dos cinco sólidos platônicos, os cinco objetos mais simétricos que existem em três dimensões. Conhecemos bem dois deles, o cubo e a pirâmide (tetraedro). Kepler entendeu que, ao colocar um sólido dentro do outro, como aquelas bonecas russas, com esferas entre cada um deles, poderia acomodar apenas seis planetas: Sol no centro; esfera (Mercúrio); sólido; esfera (Vênus); sólido; esfera (Terra); sólido etc. Portanto, o número de planetas seria decorrente do número de sólidos perfeitos!
Kepler foi além. Como os sólidos obedecem às regras da geometria, seu arranjo determina também as distâncias entre si e, portanto, entre as esferas que os cercam. Experimentando com padrões diferentes, Kepler encontrou um que previa as distâncias entre os planetas com uma precisão de 5% -quando comparado com os dados astronômicos da época, um feito sensacional.
Para um homem que acreditava profundamente num Deus matemático, criador da ordem cósmica, nada mais natural do que uma solução geométrica. Kepler via seu arranjo como a expressão do sonho pitagórico de obter uma explicação geométrica para os mistérios do mundo. Para ele, essa era a teoria final.
Podemos aprender algo com Kepler. Soubesse ele da existência de outros planetas, Urano e Netuno, como teria reagido? Certamente, seu sonho de uma ordem geométrica para o Cosmo dependia do que se sabia na época. Seu erro foi ter dado ao estado do conhecimento empírico do mundo uma finalidade que não existe. Para Johannes Kepler, era inimaginável que o Cosmo pudesse se desviar de sua estrutura geométrica. No entanto, sabemos que nosso conhecimento do mundo é limitado, e será sempre.
Por isso, devemos julgar declarações sobre teorias de tudo ou teorias finais com enorme ceticismo. A história nos ensina que o progresso científico caminha de mãos dadas com nossa habilidade de medir a Natureza. Achar que a mente humana pode imaginar o mundo antes de medi-lo pode ocasionalmente dar certo. Mas, em geral, leva a mundos que existem apenas na imaginação.
MARCELO GLEISER é professor de física teórica no Dartmouth College, em Hanover (EUA), e autor do livro "Criação Imperfeita"
domingo, 11 de julho de 2010
Sobre o natural e o sobrenatural
Semana passada, escrevi sobre a importância do não saber, de como o conhecimento avança apenas quando parte do não saber, isto é, do senso de mistério que existe além do que se sabe.
A questão aqui é de atitude, do que fazer frente ao desconhecido. Existem duas alternativas: ou se acredita na capacidade da razão e da intuição humana (devidamente combinadas) em sobrepujar obstáculos e chegar a um conhecimento novo, ou se acredita que existem mistérios inescrutáveis, criados por forças além das relações de causa e efeito que definem o normal.
Em outras palavras, ou se vive acreditando em causas naturais por trás do que ocorre no mundo, ou se acredita em causas sobrenaturais, além do explicável.
Quando falo sobre isso, com frequência me perguntam se não seria possível uma conciliação entre as duas: parte do mundo sendo natural e parte sobrenatural. Não vejo como isso poderia ser feito.
No meu livro recente "Criação Imperfeita", argumentei que a ciência jamais será capaz de responder a todas as perguntas. Sempre existirão novos desafios, questões que a nossa pesquisa e inventividade não são capazes de antecipar.
Podemos imaginar o conhecido como sendo a região dentro de um círculo e o desconhecido como sendo o que existe fora do círculo. Não há dúvida de que à medida em que a ciência avança, o círculo cresce. Entendemos mais sobre o universo, sobre a vida e sobre a mente. Mas mesmo assim, o lado de fora do círculo continuará sempre lá. A ciência não é capaz de obter conhecimento sobre tudo o que existe no mundo.
E por que isso? Porque, na prática, aprendemos sobre o mundo usando nossa intuição e instrumentos. Sem telescópios, microscópios e detectores de partículas, nossa visão de mundo seria mais limitada.
A tecnologia abre novas janelas para um mundo que, outrossim, permaneceria invisível à nossa limitada percepção da realidade. Porém, tal como nossos olhos, essas máquinas têm limites. Existem outros, ligados à própria estrutura da natureza, como o princípio de incerteza da mecânica quântica. Mas eles podem mudar com o avanço da ciência.
Essa imagem, de que o conhecido existe em um círculo e que muito do mundo permanece obscuro pode gerar confusão. Ou ainda pode ser manipulada por aqueles que querem inculcar nas pessoas um senso de que estamos cercados por forças ocultas que, de algum modo, controlam nossas vidas. É aqui que entram as alternativas que mencionei.
Parafraseando o poeta romano Lucrécio, as pessoas vivem aterrorizadas pelo que não podem explicar. Ser livre é poder refletir sobre as causas dos fenômenos sem aceitar cegamente "explicações inexplicáveis", ou seja, explicações baseadas em causas além do natural.
Essa escolha exige coragem. Implica na aceitação de que certos aspectos do mundo, apesar de inexplicáveis, não são sobrenaturais.
Não é fácil ser coerente quando algo de estranho ocorre, uma incrível coincidência, a morte de um ente querido, uma premonição, algo que foge ao comum. Mas como dizia o grande físico Richard Feynman, "prefiro não saber do que ser enganado". E você?
MARCELO GLEISER é professor de física teórica no Dartmouth College, em Hanover (EUA), e autor do livro "Criação Imperfeita"
A questão aqui é de atitude, do que fazer frente ao desconhecido. Existem duas alternativas: ou se acredita na capacidade da razão e da intuição humana (devidamente combinadas) em sobrepujar obstáculos e chegar a um conhecimento novo, ou se acredita que existem mistérios inescrutáveis, criados por forças além das relações de causa e efeito que definem o normal.
Em outras palavras, ou se vive acreditando em causas naturais por trás do que ocorre no mundo, ou se acredita em causas sobrenaturais, além do explicável.
Quando falo sobre isso, com frequência me perguntam se não seria possível uma conciliação entre as duas: parte do mundo sendo natural e parte sobrenatural. Não vejo como isso poderia ser feito.
No meu livro recente "Criação Imperfeita", argumentei que a ciência jamais será capaz de responder a todas as perguntas. Sempre existirão novos desafios, questões que a nossa pesquisa e inventividade não são capazes de antecipar.
Podemos imaginar o conhecido como sendo a região dentro de um círculo e o desconhecido como sendo o que existe fora do círculo. Não há dúvida de que à medida em que a ciência avança, o círculo cresce. Entendemos mais sobre o universo, sobre a vida e sobre a mente. Mas mesmo assim, o lado de fora do círculo continuará sempre lá. A ciência não é capaz de obter conhecimento sobre tudo o que existe no mundo.
E por que isso? Porque, na prática, aprendemos sobre o mundo usando nossa intuição e instrumentos. Sem telescópios, microscópios e detectores de partículas, nossa visão de mundo seria mais limitada.
A tecnologia abre novas janelas para um mundo que, outrossim, permaneceria invisível à nossa limitada percepção da realidade. Porém, tal como nossos olhos, essas máquinas têm limites. Existem outros, ligados à própria estrutura da natureza, como o princípio de incerteza da mecânica quântica. Mas eles podem mudar com o avanço da ciência.
Essa imagem, de que o conhecido existe em um círculo e que muito do mundo permanece obscuro pode gerar confusão. Ou ainda pode ser manipulada por aqueles que querem inculcar nas pessoas um senso de que estamos cercados por forças ocultas que, de algum modo, controlam nossas vidas. É aqui que entram as alternativas que mencionei.
Parafraseando o poeta romano Lucrécio, as pessoas vivem aterrorizadas pelo que não podem explicar. Ser livre é poder refletir sobre as causas dos fenômenos sem aceitar cegamente "explicações inexplicáveis", ou seja, explicações baseadas em causas além do natural.
Essa escolha exige coragem. Implica na aceitação de que certos aspectos do mundo, apesar de inexplicáveis, não são sobrenaturais.
Não é fácil ser coerente quando algo de estranho ocorre, uma incrível coincidência, a morte de um ente querido, uma premonição, algo que foge ao comum. Mas como dizia o grande físico Richard Feynman, "prefiro não saber do que ser enganado". E você?
MARCELO GLEISER é professor de física teórica no Dartmouth College, em Hanover (EUA), e autor do livro "Criação Imperfeita"
domingo, 4 de julho de 2010
A importância de não saber
Vivemos em tempos privilegiados. Ao menos no que diz respeito à cosmologia e à física de partículas. Para um cientista, nada mais empolgante do que ter em mãos novas tecnologias capazes de testar teorias. Às vezes, são décadas antes que máquinas possam investigar realidades distantes do nosso dia a dia. Mas, um dia, as ideias são testadas. E aí, é a glória ou a lata de lixo.
A história da cosmologia nos últimos cem anos ilustra bem isso. Albert Einstein foi o primeiro a propor um modelo para o cosmo, baseado em sua teoria da gravidade, a relatividade geral. Isso se deu em 1917, antes de ele ter qualquer razão para supor um Universo que muda com o tempo. Daí ter proposto o mais simples, um cosmo estático e esférico.
Entre 1917 e 1929, ano em que Edwin Hubble descobriu a expansão cósmica, vários modelos surgiram, com todo o tipo de comportamento. Em 1922, o russo Alexandre Friedmann sugeriu que o cosmo poderia expandir-se para sempre ou chegar a um tamanho máximo e se contrair. Daí, poderia alternar expansão e contração indefinidamente.
Einstein não gostou das ideias de Friedmann. Mas em 1931 acabou se convencendo, após visitar Hubble no Observatório do Monte Wilson, nos EUA. Precisou de dados concretos para mudar de ideia.
O próximo episódio ocorreu no final da década de 1940. Três físicos ingleses, desiludidos com a ideia de que o Universo poderia ter tido um começo e, portanto, uma história, propuseram o "estado padrão", no qual o Universo era eterno. Com isso, queriam se livrar da conexão inevitável com o Gênesis. Para ser compatível com a expansão, sugeriram que matéria era criada para compensar sua diluição, mantendo o cosmo num estado padrão.
No meio tempo, George Gamow, físico russo residindo nos EUA, propôs o modelo do Big Bang, no qual o cosmo surge de uma singularidade no passado. Junto com Ralph Alpher e Robert Hetman, calculou que deveria existir uma radiação por toda parte, um fóssil de quando os primeiros átomos de hidrogênio foram formados. Em 1965, a radiação primordial foi encontrada e o modelo do estado padrão, que não podia explicá-la, foi abandonado.
Hoje, temos duas observações ainda não explicadas. Primeiro, que galáxias são circundadas por um véu de matéria escura, um tipo de matéria que não produz a própria luz e interage apenas gravitacionalmente com a matéria comum. Segundo, que a expansão cósmica está acelerando. O culpado dessa pressa celeste tem um nome, "energia escura". Mas só isso.
Sabemos que a matéria escura representa 23% do material cósmico, enquanto que a energia escura representa cerca de 70%. Mas não sabemos do que são feitas. Imagino que a energia escura esteja relacionada com o vazio. Pois é, é possível que a componente dominante do Universo venha do nada. Devido ao princípio da incerteza da física quântica, não existe o vazio: flutuações de energia vindas do nada podem criar matéria, numa dança perpétua de criação e destruição.
Em ciência, é bom não saber. Precisamos de dados para decidir. Afinal, experimentos sem teoria são prosaicos e teorias sem experimentos são cegas. Acho que Einstein concordaria com isso.
MARCELO GLEISER é professor de física teórica no Dartmouth College, em Hanover (EUA), e autor do livro "Criação Imperfeita"
A história da cosmologia nos últimos cem anos ilustra bem isso. Albert Einstein foi o primeiro a propor um modelo para o cosmo, baseado em sua teoria da gravidade, a relatividade geral. Isso se deu em 1917, antes de ele ter qualquer razão para supor um Universo que muda com o tempo. Daí ter proposto o mais simples, um cosmo estático e esférico.
Entre 1917 e 1929, ano em que Edwin Hubble descobriu a expansão cósmica, vários modelos surgiram, com todo o tipo de comportamento. Em 1922, o russo Alexandre Friedmann sugeriu que o cosmo poderia expandir-se para sempre ou chegar a um tamanho máximo e se contrair. Daí, poderia alternar expansão e contração indefinidamente.
Einstein não gostou das ideias de Friedmann. Mas em 1931 acabou se convencendo, após visitar Hubble no Observatório do Monte Wilson, nos EUA. Precisou de dados concretos para mudar de ideia.
O próximo episódio ocorreu no final da década de 1940. Três físicos ingleses, desiludidos com a ideia de que o Universo poderia ter tido um começo e, portanto, uma história, propuseram o "estado padrão", no qual o Universo era eterno. Com isso, queriam se livrar da conexão inevitável com o Gênesis. Para ser compatível com a expansão, sugeriram que matéria era criada para compensar sua diluição, mantendo o cosmo num estado padrão.
No meio tempo, George Gamow, físico russo residindo nos EUA, propôs o modelo do Big Bang, no qual o cosmo surge de uma singularidade no passado. Junto com Ralph Alpher e Robert Hetman, calculou que deveria existir uma radiação por toda parte, um fóssil de quando os primeiros átomos de hidrogênio foram formados. Em 1965, a radiação primordial foi encontrada e o modelo do estado padrão, que não podia explicá-la, foi abandonado.
Hoje, temos duas observações ainda não explicadas. Primeiro, que galáxias são circundadas por um véu de matéria escura, um tipo de matéria que não produz a própria luz e interage apenas gravitacionalmente com a matéria comum. Segundo, que a expansão cósmica está acelerando. O culpado dessa pressa celeste tem um nome, "energia escura". Mas só isso.
Sabemos que a matéria escura representa 23% do material cósmico, enquanto que a energia escura representa cerca de 70%. Mas não sabemos do que são feitas. Imagino que a energia escura esteja relacionada com o vazio. Pois é, é possível que a componente dominante do Universo venha do nada. Devido ao princípio da incerteza da física quântica, não existe o vazio: flutuações de energia vindas do nada podem criar matéria, numa dança perpétua de criação e destruição.
Em ciência, é bom não saber. Precisamos de dados para decidir. Afinal, experimentos sem teoria são prosaicos e teorias sem experimentos são cegas. Acho que Einstein concordaria com isso.
MARCELO GLEISER é professor de física teórica no Dartmouth College, em Hanover (EUA), e autor do livro "Criação Imperfeita"
domingo, 13 de junho de 2010
Newton, Einstein e Deus
TALVEZ ISSO SURPREENDA muita gente, mas tanto Newton quanto Einstein, sem dúvida dois dos grandes gigantes da física, tinham uma relação bastante íntima com Deus.
É bem verdade que o que ambos chamavam de "Deus" não era compatível com a versão mais popular do Deus judaico-cristão.
Numa época em que existe tanta disputa sobre a compatibilidade da ciência com a religião, talvez seja uma boa ideia revisitar o pensamento desses dois grandes sábios.
No epílogo da edição de 1713 de sua obra prima "Princípios Matemáticos da Filosofia Natural" (1686), Newton escreve que o seu Deus (cristão, claro) era o senhor do Cosmo e que deveria ser adorado por estar em toda a parte, por ser o "Governante Universal". Essa visão de Deus pode ser considerada panteísta, se entendermos por panteísmo a doutrina que identifica Deus com o Universo ou que identifica o Universo como sendo uma manifestação de Deus.
A visão que Einstein tinha de Deus, devidamente destituída da conotação cristã, ecoava de certa forma a de Newton. Einstein desprezava tudo o que dizia respeito à religião organizada, em particular a sua rígida hierarquia e ortodoxia.
Para ele, um Deus que se preocupava com o destino individual dos homens não fazia sentido. Sua visão era bem mais abstrata, baseada nos ensinamentos do filósofo Baruch Spinoza, que viveu no século 17.
Numa carta dirigida a Eduard Büsching, de 25 de outubro de 1929, Einstein diz: "Nós, que seguimos Spinoza, vemos a manifestação de Deus na maravilhosa ordem de tudo o que existe e na sua alma, que se revela nos homens e animais".
Em 1947, numa outra carta, Einstein escreveu: "Minha visão se aproxima da de Spinoza: admiração pela beleza do mundo e pela simplicidade lógica de sua ordem e harmonia, que podemos compreender".
Como essas posições podem ser usadas no debate sobre a compatibilidade da ciência com a religião?
De um lado, ateus radicais como Richard Dawkins, Christopher Hitchens e Sam Harris argumentam que não pode haver uma compatibilidade, que a religião é uma ilusão que precisa ser erradicada, que o sobrenatural é uma falácia.
De outro, existem vários cientistas que são pessoas religiosas e até mesmo ortodoxas, e que não veem qualquer problema em compatibilizar seu trabalho com a sua fé. O fato de existirem posições tão antagônicas reflete, antes de mais nada, a riqueza do pensamento humano. Nisso, vejo um ponto de partida para uma possível conciliação.
É verdade que o ateísmo radical está respondendo a grupos fundamentalistas que tentam evangelizar instituições públicas. "Guerra é guerra e devemos usar as mesmas armas", ouvi de amigos. Mas o pior que um fundamentalista pode fazer é transformar você nele.
Einstein e Newton encontraram Deus na Natureza e viam a ciência como uma ponte entre a mente humana e a mente divina.
Para eles, adorar a Natureza, estudá-la cientificamente, era uma atitude religiosa. Acho difícil ir contra essa posição, seja você ateu ou religioso. Religiões nascem, morrem e se transformam com o passar do tempo. Mas, enquanto existirmos como espécie, nossa íntima relação com o Cosmo permanecerá.
________________________________________MARCELO GLEISER é professor de física teórica no Dartmouth College, em Hanover (EUA), e autor do livro "Criação Imperfeita"
segunda-feira, 24 de maio de 2010
Nietzsche e o Nascimento da Tragédia - no YouTube
Ontem, navegando como quem não quer nada dei de cara com esse vídeo. É um programa sobre o livro do Nietzche que está sendo resenhado aqui debatido pelo excelente Paulo Ghiraldelli Jr e apresentado por um âncora meio surtado. Excelente programa de Filosofia este Loucuras Filosóficas. Veja no link:
sábado, 22 de maio de 2010
Nietzsche e o Nascimento da Tragédia
A edição deste texto é acompanhada por um prefácio do próprio autor construído anos mais tarde no qual ele avalia essa sua obra de juventude. Começa por chamá-lo de bizarro e mal acessível. Apresenta-nos a tese principal da obra (o nascimento da tragédia a partir do espírito da música) para, em seguida, cobrir-nos de indagações. O que levou os gregos a necessitarem da tragédia? Seria o pessimismo um sinal de declínio civilizatório? O que foi o mito trágico? Qual o papel do socratismo e de seu filho - o homem teórico - na morte da tragédia? E mais: é o cientificismo, obra do homem teórico, uma tentativa malograda de curar o pessimismo?
Nietzsche afirma que, ao escever o livro, deu de cara com o problema da ciência, problema que também ocupará suas discussões e servirá para mostrar os frutos mediocrizantes e banalizadores do socratismo entre nós. Embora afirme que, dezesseis anos depois, o livro lhe pareça estranho, pesado, sentimental e, até, desagradável, reconhece sua ousadia em querer "ver a ciência com a ótica do artista, mas a arte, com a da vida..."
Reconhece, ainda, que o livro é para inciados e para aqueles que "foram batizados na música", veículo do dionisíaco. Dezesseis anos passados, Nietzsche revê a eloqüência do texto, mas mantém a pergunta sobre a necessidade da tragédia.
Inquire se o anseio grego pela beleza se sustenta na relação desse povo com a sensibilidade, com a dor. Neste caso, então, o anseio pelo feio, pelo mito trágico, pelo que há de mais aniquilador e fatídico, deve ser buscado onde?
Retomando o prefácio da Richard Wagner, Nietzsche argumenta que é a arte, não a moral, a atividade metafísica por excelência e só enquanto fenômeno estético a existência do mundo se justifica. Assim, o artista é colocado como um 'deus', inconsiderado e amoral, que, em seu prazer e autocracia, em razão da necessidade de se livrar da abundância, da superabundância e do sofrimento, constrói e destrói mundos.
Nesse prefácio posterior, o autor reconhece, no pendor antimoral do txto, um precvavido e hostil silêncio em relação ao cristianismo, religião que "foi desde o início, essencial e basicamente, asco e fastio da vida na vida, que apenas se disfarçava, apenas se ocultava, apenas se enfeitava sob a crença em 'outra' ou 'melhor' vida. O ódio ao 'mundo', a maldição dos fetos, o medo à beleza e à sensualidade, um lado-de-lá inventado para difamar melhor o lado-de-cá" (p. 19). Essa afirmação dos valores morais no crisitnaismo é vista, então, como uma ds principais formas de uma vontade de declínio. Para o autor, em suma, o livro é um libélulo contra a moral, a favor do insitinto de vida, configurando-se numa contradoutrina essencialmente artística e contracristã, denominada dionisíaca.
Por fim, Nietzche reconhece seus erros de interpretação das leituras, feitas à época, das obras de Kant e Schopenhauer. Reconhece que este último lhe dizia uma coisa sobre o espírito trágico, enquanto Dionísio lhe afiormava outra, ou seja, o espírito trágico não conduz à resignação. Um segundo erro, para o autor, são suas esperanças no tocante à música alemã (O Caso Richard Wagner) e ao 'ser alemão', cujo caminhar para uma sociedade democrática revelava-se uma "passagem para a mediocrização acomodante" (p. 21). Entretanto, o grande ponto de interrogação dionísíaco permanece: Como deveria ser composta uma música dionisíaca?
O livro que se diz contra o romantismo, pergunta o autor, não é ele mesmo um livro romântico e, portanto, anti-helênico? Nietzsche termina esse prefácio com Zaratustra e seu riso santo. Particularmente, eu não percebi no livro esse asco romântico paontado posteriormetne pelo autor. Percebi,sim, uma força nas palavras que só um espírito jovem em extâse é capaz de produzir. Realmente, Dionísio estava com ele. Apolo também.
Nesse prefácio posterior, o autor reconhece, no pendor antimoral do txto, um precvavido e hostil silêncio em relação ao cristianismo, religião que "foi desde o início, essencial e basicamente, asco e fastio da vida na vida, que apenas se disfarçava, apenas se ocultava, apenas se enfeitava sob a crença em 'outra' ou 'melhor' vida. O ódio ao 'mundo', a maldição dos fetos, o medo à beleza e à sensualidade, um lado-de-lá inventado para difamar melhor o lado-de-cá" (p. 19). Essa afirmação dos valores morais no crisitnaismo é vista, então, como uma ds principais formas de uma vontade de declínio. Para o autor, em suma, o livro é um libélulo contra a moral, a favor do insitinto de vida, configurando-se numa contradoutrina essencialmente artística e contracristã, denominada dionisíaca.
Por fim, Nietzche reconhece seus erros de interpretação das leituras, feitas à época, das obras de Kant e Schopenhauer. Reconhece que este último lhe dizia uma coisa sobre o espírito trágico, enquanto Dionísio lhe afiormava outra, ou seja, o espírito trágico não conduz à resignação. Um segundo erro, para o autor, são suas esperanças no tocante à música alemã (O Caso Richard Wagner) e ao 'ser alemão', cujo caminhar para uma sociedade democrática revelava-se uma "passagem para a mediocrização acomodante" (p. 21). Entretanto, o grande ponto de interrogação dionísíaco permanece: Como deveria ser composta uma música dionisíaca?
O livro que se diz contra o romantismo, pergunta o autor, não é ele mesmo um livro romântico e, portanto, anti-helênico? Nietzsche termina esse prefácio com Zaratustra e seu riso santo. Particularmente, eu não percebi no livro esse asco romântico paontado posteriormetne pelo autor. Percebi,sim, uma força nas palavras que só um espírito jovem em extâse é capaz de produzir. Realmente, Dionísio estava com ele. Apolo também.
[to be continued]
Fernanda Meireles
Fernanda Meireles
Assinar:
Postagens (Atom)